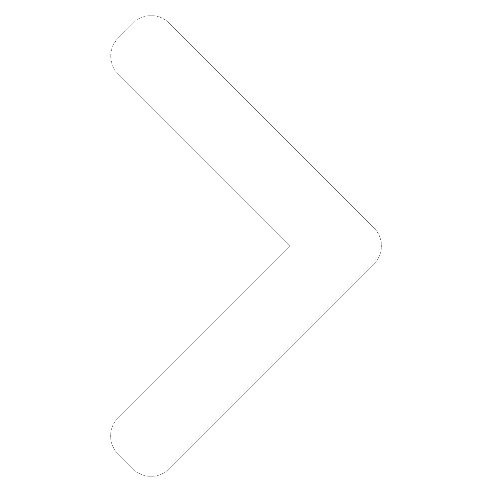
Do Diário do Grande ABC

|
ouça este conteúdo
|
readme
|
A reportagem do Diário conversou com o matador em um bar na periferia de Santo André, depois de uma tarde de vários telefonemas negociando com intermediários as condições para a entrevista. Cuidadoso, o rapaz não estava no local na hora marcada. Apareceu em alguns minutos, depois de, na rua, observar a chegada do repórter e dar uns toques para “amigos” próximos cobrirem sua retaguarda, caso fosse alguma armadilha.
Não se furtou de responder nada, tomando apenas o cuidado de não revelar detalhes que pudessem identificá-lo. Não quis beber cerveja com seus conhecidos, apenas uma Coca-Cola.
“Matei pela primeira vez aos 16 anos (hoje, tem 36). Um companheiro de roubo. Fizemos um assalto (a banco), e ele escondeu parte do dinheiro. Percebi porque o cara ficava se mostrando, gastando na favela mais do que devia ter... Se eu fui tirar satisfações? Nada... Atirei primeiro.”
Carlinhos começou no crime com assaltos dois anos antes, aos 14 anos. Mas, depois dessa morte, passou a aceitar encomendas. “Os próprios parentes do cara que eu apaguei (o companheiro de assalto) disseram: ‘já que você matou fulano, não quer matar o sicrano. Foram dois palitos. Não vejo o que o cara faz, mato qualquer um.”
Diferente do que se costuma ver no cinema, o contato com matadores não se dá por telefonemas em código ou anúncios cifrados em revistas e jornais. Geralmente, o contrato para matar se dá por indicação de algum conhecido, alguém que tenha contato com a bandidagem, mesmo que seja, tecnicamente, uma pessoa honesta.
Pode ser alguém que cresceu em bairros pobres cujos amigos de infância viraram criminosos, ou que trabalhou em empresas de segurança sem muito critério – que ignoram a ficha policial do funcionário –, ou que simplesmente são aspirantes a bandido e gostam de se enturmar com eles.
A maioria dos assassinatos encomendados começam em conversas de bar. Como essa. “Se me der quinhentinho (R$ 500) e a arma, o cara já era.” Usando equipamento próprio e fazendo planejamento – vigiar os hábitos da vítima para escolher a melhor oportunidade –, o valor sobe para R$ 1 mil. “No máximo em quatro dias, eu apago o cara.” E não faz restrições às vítimas. Mataria um conhecido? “Claro. O negócio é fazer a mãe dele chorar... A minha é que não pode.” Carlinhos não confirma se já matou policiais, mas diz haver uma espécie de tabela: por R$ 1 mil, se acha quem mate um policial militar; por R$ 10 mil, um delegado.
Em qualquer dos casos, o cliente pode recorrer também a um nóia (viciado em drogas), que “mata por qualquer papelote (de cocaína ou crack)”. Mas nesse caso, garante, “é sujeira”, não se faz “a coisa” bem feita. “Tem que estar de cara limpa.” Admite que fuma maconha, mas que nunca foi viciado.
Entre assaltos e assassinatos (a maioria em Santo André e São Bernardo), Carlinhos ganhou muito dinheiro – “Em um roubo de banco, só a minha parte foi R$ 50 mil.” Entre mulheres e farras, perdeu quase tudo. “Muita boate, mulher e bebedeiras... Malandro só entra em cana duro. Todo o dinheiro já foi gasto com farra e pagando caixinha para policiais.” E ele faz questão de mostrar os dedos das mãos, tortos, machucados, segundo ele, por seções de tortura em seus diversos passeios por camburões.
Garante que não se arrepende de nada que fez na vida. Seus crimes não lhe trazem pesadelos nem traumas. “O que fiz foi o que a sociedade me ofereceu”, disse, antes de bater em meu ombro e completar: “Nossa entrevista está terminada”. Sorriu de forma camarada – mas com uma expressão nos olhos de quem não admitiria ser contrariado quanto ao fim da conversa –, tomou seu último gole de Coca-Cola e saiu.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.





 Santo André 16° C
Santo André 16° C







