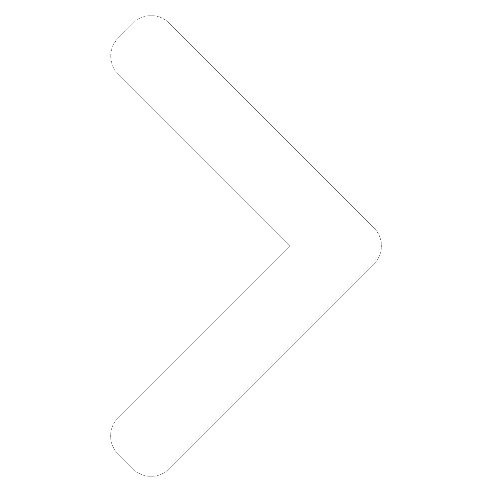
Do Diário do Grande ABC

Falta uma semana para a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood concluir mais um ciclo anual. No próximo domingo será realizada a 78ª edição do Oscar, prêmio que geralmente não diz muita coisa para além da calçada da fama, dadas as assíduas mancadas de seus votantes. Na quarta matéria da série em que o Diário analisa as mais recentes premiações, é a categoria principal que passa por sabatina: a dos filmes.
Raríssimos foram os anos em que justiça foi feita. Muitos dos filmes premiados não legaram nada – ou quase nada – para o cinema como arte e produção. Em função disso, obras muito mais importantes e que definiram estilos pessoais e coletivos na indústria, tiveram de deixar a cerimônia pela porta dos fundos. Pela última vez, questionamos: por que é que o Oscar é assim?
1995 – A digitalização da fantasia providenciada por Jurassic Park e seus efeitos especiais, dois anos antes, revalorizaria o cinema de entretenimento, mola-mestra de Hollywood. Entretanto, poderia parecer ridículo para a Academia premiar um filme protagonizado por clones de dinossauro. Eis que aparece Forrest Gump – O Contador de Histórias, que fornecia uma embalagem “séria” a esse upgrade tecnológico. O retrato do idiota como síntese da história recente demonstrava a impotência que setores republicanos vislumbravam na administração democrata de Bill Clinton, com saudade dos anos Reagan, quando capinar o quintal dos outros era prioridade. Lamentável que um filme assim, partidário, tenha vencido o tarantinesco Pulp Fiction.
1996 – Uma cultura que foi fundada e comercializada sob o signo do heroísmo não poderia deixar a peteca do mito cair, mesmo que os tempos geopolíticos não demandassem guerra. Coração Valente caía como uma luva para incrementar esse acervo de heróis. Um sujeito que não briga pela pátria ou pela terra, mas por seu direito de constituir família e conduz uma legião de guerreiros – que não são do seu sangue – para morrer na frente de batalha, não pelo bem comum, mas pela sua paz como indivíduo. Apollo 13 elegia o heroísmo como eixo, mas aqui era questão de sobrevivência da ciência.
1997 – A piada era boa, mas não precisava ser levada a sério. Ceder o Oscar a O Paciente Inglês, exercício modorrento e pretensamente elegante sobre perda e reconquista, comprova o senso de humor da Academia. O homem perdido vira novamente o cronista de uma era. Jerry Maguire sustentava-se na queda e ascensão do yuppie – conceito republicano do sucesso a qualquer preço – e acabava como elogio do que inicialmente criticava. Segredos e Mentiras era um bocado mais interessante, pelas contrariedades familiares que propunha, sem a mesma pintura psicologizante de Shine – Brilhante. Por incrível que pareça, o melhor dos indicados era o dos irmãos Coen, Fargo, filme policial que pode ser descrito como polarização, na estética e nos códigos, do filme noir.
1998 – Um projeto megalomaníaco que topou com um obstáculo maior que suas intenções. A frase tanto caberia a Hollywood quanto a Titanic, o filme do ano na avaliação da Academia. A um custo de US$ 200 milhões, o filme de Cameron tornou-se a maior arrecadação em bilheterias no mundo (US$ 1,83 bilhões) e ajudou a reverter o arrocho financeiro que Hollywood vivia no início da década. Os rendimentos praticamente dobrariam deste ano em diante. Era o ano do esbanjamento, o ano de Hollywood reiterar sua posição hegemônica no cenário do entretenimento.
1999 – A guerra já não era pauta do dia para os Estados Unidos, que conseguiu intrometer-se em praticamente tudo quanto foi conflito no século passado. Depois do ciclo, entre os anos 70 e 80, que encharcava o rosto no fiasco do Vietnã, houve uma brevíssima atenção à Segunda Guerra. Três filmes abordavam a expedição, sempre com um compromisso maior que o mero retrato: O Resgate do Soldado Ryan e sua aula de dissecação a céu aberto para justificar a campanha de resgate do herói; Além da Linha Vermelha e seu intenso filosofar no fogo cruzado; e A Vida É Bela, que provava que a sagacidade pelo entretenimento estava no juramento do artista enquanto vendedor. Elizabeth contextualiza o poder como prioridade maior que a própria vida – possível resposta à recente revelação de que Clinton e Monica Lewinski faziam algo além de despachar na Casa Branca. Mas, entre escândalos sexuais e a pólvora expirando no paiol, preferiu-se a neutralidade de Shakespeare Apaixonado.
2000 – Havia uma denúncia sobre os sortilégios do capitalismo, com seus estratagemas de transfigurar o supérfluo em necessidade, em O Informante. E havia um reestudo do suspense sobrenatural/psicológico, com uma aula de criatividade e de alta cultura técnica e resultados surpreendentes, chamado O Sexto Sentido. Mas os Estados Unidos precisavam rir de suas donas-de-casa, de seus militares na reserva, de seus self-made-men, de sua trivialidade. E elegeram como produção do ano Beleza Americana, filme que na melhor das hipóteses seria uma piada, e não exatamente uma crítica. Um mea culpa bem demagogo, por sinal, que deslocou para segundo plano a celebração da existência presente em Regras da Vida e a reordenação do mito cristão em À Espera de um Milagre.
2001 – Primeiro ano na presidência de George W. Bush, republicano eleito após oito anos de hegemonia democrata. Como todo início de mandato, esperanças de guinadas no rumo político. Uma imagem heróica, segundo as perspectivas de uma cultura que cresceu enfaixada por mitos. Imagem tal e qual a do protagonista de Gladiador, épico no qual seu herói peita um governo cujo imperador comete incesto e outras oscilações sexuais (seria Bush expulsando do Éden D.C. o casal Clinton e Monica, com seus vícios inaceitáveis para um partido que posteriormente defenderia a abstinência sexual como método contraceptivo?).
2002 – O clichê do gênio com instabilidades psicológicas e/ou emocionais convenceu muita gente de que Uma Mente Brilhante era o melhor filme do ano. Uma obra mequetrefe, mas que possuía temática e direção mais amenas, para acalmar a tremedeira do 11 de Setembro. E olhe que havia um candidato (Entre Quatro Paredes) que defendia abertamente o troco na mesma moeda, a justiça com as próprias mãos – e que, face àquele contexto de desforra, surpreendentemente não ganhou. Cinema por cinema, Assassinato em Gosford Park e Moulin Rouge! eram opções melhores.
2003 – O rei ficava nu com o investimento de risco que Martin Scorsese fez em Gangues de Nova York. A estruturação da soberania econômica e política conseguida por meio da violência vivia sua Quarta-Feira de Cinzas no filme, tinha a fantasia desabotoada, desarrumada, descartada. Gangues desglamourizava o épico dentro dos próprios códigos do gênero e indicava a corrupção como meio de manutenção do poder. Mas preteriram esse preciso diagnóstico do “aqui e agora” em favor do cinismo com lantejoulas de Chicago, numa providencial saída pela direita. As Horas, pseudo-intelectual, não tinha nem por que ser indicado, e O Pianista, apesar da mensagem de sobrevivência num contexto de horror, já seria premiado pela direção de Roman Polanski, num voto de perdão da Academia.
2004 – Não era exatamente uma necessidade para os blockbusters de ação, mas não cairia nada mal uma apólice da Academia para que o negócio prosperasse cada vez mais. E Senhor dos Anéis – O Retorno do Rei estava no lugar certo e na hora certa. Era adaptação de uma obra respeitada na literatura de aventura, abusava de todo o investimento que Hollywood fizera em tecnologia digital nos últimos anos e os dois filmes que o antecediam conquistaram o dinheiro e a admiração do público. A obra não se tratava de nenhum achado cinematográfico, como eram o tratado da melancolia chamado Encontros e Desencontros e a parábola dos vícios democráticos de Sobre Meninos e Lobos. Duas obras tão fundamentais, tão entranhadas nas dissonâncias de seu contexto, e solenemente ignoradas. Um destino igual ao de Mestre dos Mares – O Lado mais Distante do Mundo e Seabiscuit, que, por sua vez, estavam no lucro só por serem indicados.
2005 – Dois débitos a quitar, um só ano para saldar. A Academia devia a Clint Eastwood e Martin Scorsese o reconhecimento depois de ignorá-los em ocasiões anteriores. E não dá para falar de Menina de Ouro e de O Aviador sem mencionar seus autores, uma vez que ambas as filmografias reverberam preferências e obsessões dos cineastas de forma claríssima. Ao fim das contas, deu Menina de Ouro – talvez haja algum entrevero pessoal entre a Academia e Scorsese, já que o cineasta ainda não levou o seu Oscar. Ray não era concorrente de estatura, já que limitava-se a ser mero palco para o ator Jamie Foxx; quanto a Em Busca da Terra do Nunca e Sideways – Entre Umas e Outras, eram peças de antiquário incapazes de transcender os lugares-comuns do drama biográfico e do drama caricato.
2006 – O principal Oscar do ano parece reservado a O Segredo de Brokeback Mountain, drama que resenha as incompatibilidades de um gênero inaugural do cinema norte-americano, o faroeste, para o atual cenário narrativo e de um romance homossexual em tais circunstâncias. Sua premiação seria um duplo voto de confiança da Academia, artístico e social. Munique também seria boa opção, para manifestar o apreço da entidade em relação à imparcialidade de Spielberg para uma crise geopolítica de nosso tempo. Crash – No Limite, embora dedique-se a uma das preferências do cinema dito “sério” (um extenso painel de causas e efeitos para abordar um problema social), não deve ter muita chance; igual probabilidade envolve Boa Noite, e Boa Sorte, que relata a responsabilidade da cultura de massa diante da farsa com timbre político, e Capote, registro biográfico de uma personalidade artística de ponta.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.



 Santo Andre 17° C
Santo Andre 17° C
 São Caetano 31° C
São Caetano 31° C
 Mauá 30° C
Mauá 30° C







