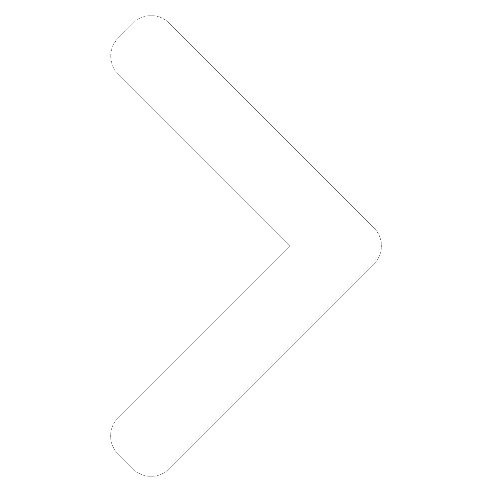
Do Diário do Grande ABC

Gould cai nas mãos da Justiça, é condenado e vai pagar suas dívidas sociais – equivalentes a 49 anos de prisão – em uma colônia penal da Tasmânia. Lá, naquele então inferno terrestre para os desterrados, conhece o médico-chefe do presídio, um sujeito asqueroso que cria um porco com o qual se comunica (o animal não está bem certo disso), metido a cientista e que pretende ingressar na Real Academia de Ciências.
O falsário Gould, que nem o nome tem de verdadeiro, é cooptado pelo médico a fim de ajudá-lo em uma pesquisa cujos dados servirão para um projeto maior, desenvolvido na sede do Reino Unido por um famoso naturalista.
Gould tem habilidades como pintor e desenhista, e é isso que lhe é exigido: retratar de forma realista e científica os seres marinhos que habitam o litoral tasmaniano. Gould vira um escravo do médico, mas isso é uma condição refrescante naquela prisão de horrores como torturas e trabalho forçados que, além de fazer brotar sangue, desfazem de modo irreversível o prumo da normalidade psicológica.
Para o ladrão e falsário, essa é, portanto, a deixa para uma existência mais “confortável”. E ele concorda com tudo o que o médico lhe diz, informa ou ordena. É quase menos que um verme, mas, graças a seus silêncios de pavor, adquire status de ser inteligente aos olhos do “ser superior”.
Prostitui seus fundamentos existenciais e rasteja e chafurda. Sua identidade é como as vontades implacáveis da maré que atingem a lamentável solitária que ocupa: vão e voltam, acomodam-se nos desvãos e limpam as imundícies civilizadas. Eis a base do processo colonizatório – em geral e em particular.
“Os criticastros dirão que sou esta coisa pequena e minhas pinturas são aquela coisa irrelevante. Farão uma babel do lado de fora e de dentro de minha pobre cabeça, até eu não poder mais marcar o tempo com o tamborilar de meu pincel sobre o papel. Farão com que eu desperte, aos gritos, de meu sonho necessário. Tentarão definir-me tal como o médico tenta fazer com suas infelizes espécies, esses malditos Lineus da alma, tentando encerrar-me no interior de alguma nova tribo por eles inventada e definida”. Gould, assim, se proclama “um partido de um só membro, indefinível” e convida à leitura: “Meus peixes hão de libertar-me, e hei de fugir com eles”.
Diante das sandices e hipocrisias que despontam no centro do Império para corroborar o racionalismo científico como fundamento de dominação e colonização, O Livro dos Peixes ressalta a fuga como reação. No limite, portanto, está em discussão o fenômeno que gera a cultura do dominado e, de forma indireta, a descrição da base de uma nação, a Austrália: o confinamento dos desterrados, dos derrotados e dos estropiados em um dos locais do planeta conhecidos, pelos “civilizados”, como “fim do mundo”. Gould diz coisa pior em seu relato.
Além do bizarro médico-chefe, Gould tem de conviver com o diretor da prisão, um impostor alucinado que usa máscara de ouro e que obriga seus comandados – detentos, guardas e funcionários – a criar uma situação irreal por meio da qual pretende lamber as botas do Império e, quem sabe, criar um Estado. Constrói, por exemplo, ferrovias em um lugar que liga nada a nada, passando por florestas habitadas por uma fauna incomum. Pretende, de forma absurda, que a grande trama ferroviária européia acabe por se ligar de forma irresistível à sua estrada de ferro tasmaniana. Mas quando isso não acontece, simplesmente manda pintar gigantescos painéis com paisagens naturais e urbanas de todo o mundo. Depois, toma seu próprio trem e, girando pela ilha, contempla aquela surreal paisagem internacional através de sua máscara de ouro.
A cada capítulo da obra corresponde o nome de um dos 12 peixes pintados por Gould. Uma sobrecapa descartável exibe toda a colorida “coleção” (reproduzida nesta página) em forma de adesivos, permitindo que as imagens dos peixes sejam coladas como ilustrações, ou epígrafes visuais, em cada divisão do livro.
Outra curiosidade interativa oferecida ao leitor são as diferentes cores da tipologia dos capítulos. É uma lembrança do processo técnico usado por Gould para contar suas memórias. O prisioneiro-artista somente podia pintar sob permissão do médico ou do diretor e o uso de tintas e pincéis era rigorosamente controlado. Ocorre que Gould fez uma espécie de diário da prisão (escrever também era terminantemente proibido), e ainda tinha de pintar paisagens medíocres a pedido de seu sádico carcereiro – uma forma de faturar um extra.
Então, para escrever o diário, Gould usa o que é possível. Por exemplo, “tinta” de sangue de canguru, de seu próprio sangue, dos sucos vitais de um molusco e, até, de seus excrementos. E são essas tonalidades que se oferecem ao leitor ao longo do livro de Flanagan. Resistir é preciso. Em nome de uma situação definida no tempo e no espaço – a luta contra a opressão na colônia penal britânica que foi a Tasmânia – ou em proveito de um ideal maior, atemporal – a liberdade. Na luta destacada pelo autor australiano, ganha corpo, como arma, a imaginação.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.
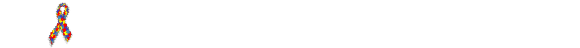


 Santo Andre 15° C
Santo Andre 15° C
 São Caetano 30° C
São Caetano 30° C







