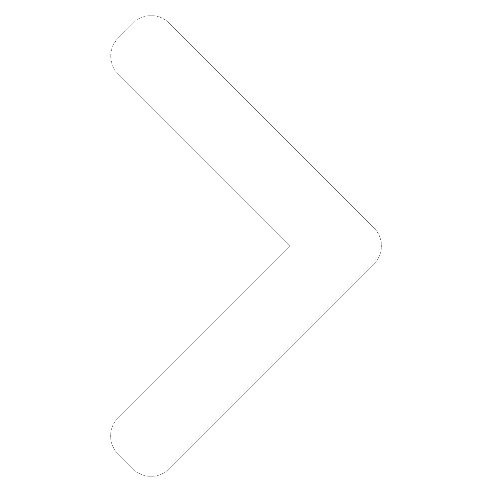 Entrevista 60 anos
Entrevista 60 anos do Diário do Grande ABC
 Claudinei Plaza/DGABC
Claudinei Plaza/DGABC
Gilmar Machado, 52 anos, nasceu em Presidente Dutra, na caatinga baiana, em 1965, a cerca de 400 quilômetros ao Norte de Salvador. Com 8 anos, antes mesmo de entrar na escola, Gilmar deixou a roça onde trabalhava com seus cinco irmãos e sua mãe para se juntar a seu pai, que tinha saído de lá um ano antes para trabalhar no Grande ABC a convite de um tio vindo de São Paulo, cidade que nenhum deles imaginava existir. No pau de arara – meio de transporte precário utilizado no Nordeste –, Gilmar lembra que passou três dias e três noites vomitando após comer frango com farofa dentro de uma lata de leite em pó.
Gilmar Machado e o Diário
Como tantos outros retirantes que vieram parar no Grande ABC com suas famílias e progrediram profissionalmente, o nordestino Gilmar Machado, que teve duas passagens pelo Diário, não só descobriu na região seu dom para o desenho de humor como também atuou e militou no jornalismo sindical em época de repressão militar, quando o simples fato de entregar panfleto em portas de fábricas era motivo suficiente para tomar um ‘chá de cadeira na delegacia’. “Estava em frente a uma empresa em greve para desenhar detalhes do movimento quando veio um policial e me deu uma borrachada que não esqueço até hoje.”
Quando o senhor descobriu a vocação para o desenho?
Desde 1974 morava em Mauá e foi lá que, aos 12 ou 13 anos, fiz os primeiros traços por conta de uma série que tinha na televisão chamada Bang-Bang à Italiana, que passava todas as quartas-feiras. Eu também gostava muito de futebol e desenhava num campo de terra, que parecia grande tapete. Pegava um pedaço de madeira e ia traçando os caubóis gigantes que depois eu contemplava de cima de um morrinho para ver o resultado dos traços antes de o resto do time chegar. Eu gostava desses filmes e isso aconteceu de maneira instintiva.
Geralmente é na adolescência que surge o talento. O que o senhor fez depois disso?
Depois, com 15 anos, fui trabalhar em fábrica de porcelana em Mauá. Era bizarro, porque a empresa contratava muitos menores de idade. E o que acontecia chegava a ser medonho. A garotada entrava lá e acabava mutilada. Todo mundo que trabalhava na fábrica acabava perdendo um membro. E comigo não foi diferente, perdi pedaço do dedo. Era cruel, pois a gente estudava à noite e dava aquele sono durante o dia. Se distraía e trocava os movimentos. Em vez de tirar as peças da prensa, a gente coloca a mão nela. E esse tipo de acidente era coisa normal. Vira e mexe um garoto sofria acidente. Não tinha isso de leis de trabalho. Eu ficava sozinho num departamento onde fazia massa de cerâmica. Tinha muita poeira e a parede ficava inteiramente branca. Aí eu desenhava nas paredes com os dedos e viajava nas figuras. Num determinado dia, um encarregado entrou, viu aquilo e brigou comigo. Eu voltei para casa revoltado e decidido a não retornar para trabalhar lá. Eu já fazia vários rafes (esboço) e fui procurar trabalho como desenhista. Nem sabia para onde ir, não tinha a menor perspectiva ou objetivo. Trabalhei em agência de publicidade em Santo André, sem salário. O teste foi assim: ‘Desenha o João Figueiredo (último presidente militar do Brasil)’, disse o dono. Desenhei o general com caneta esferográfica mesmo. Eles gostaram. Fiquei seis meses sem ganhar nada. Mas também não fazia nada. Alimentava trabalho que não existia.
Qual foi seu primeiro contato com jornal impresso?
Publiquei pela primeira vez no jornal A Voz de Mauá. Era charge sobre a morte de Tancredo Neves. Publiquei mais alguns desenhos. Aí os caras me indicaram o Diário. Me falaram: “Vai lá procurar trabalho. Lá tem o Juarez (trabalhou no Diário de 1981 a 1991), tem o Fernandes (é ilustrador no Diário desde 1982). Eu gostava muito do trabalho dos dois. Recortava os desenhos deles e tenho até hoje. Quando fui lá, encontrei os dois no elevador. Aí fui até a Redação e vi que tinha uma coisa aberta, isto é, existia a apresentação das ideias das charges de todos os caras para uma editora e a que fosse aprovada seria publicada no dia seguinte. No fim do mês eram somados os trabalhos publicados e o chargista recebia por isso. Quando cheguei lá já tinha uma equipe inteira: Juarez, Adelmo, Pathé, Fernandes, Luiz Gustavo, tinha uma equipe bastante grande que ficava ali revezando os espaços, iam produzindo e formavam um salário no fim do mês. Eu nem lembro exatamente quem era contratado efetivamente e quem não era. Fiquei muito intimidado, pois achei um clima já muito preenchido. Até consegui publicar uma charge no espaço nobre do jornal, no Editorial. Foi uma grande realização. Mas não peguei muito bem essa coisa da disputa por espaço. Então fui embora na primeira semana. Procurei outro caminho.
Foi o caminho do cartum sindical?
Achei um jornal do PT regional e fui lá mostrar meus desenhos. Nisso apareceu o jornalista Nilton Hernandes, que trabalhava no Sindicato dos Condutores de Veículos e me falou que estavam precisando de um desenhista. Fui contratado logo de cara, sem muita conversa. Passei a fazer as charges dos boletins diários. Enfim, foi meu primeiro trabalho registrado.
O desenhista sindical, além de auxiliar na montagem dos jornais, chegava a militar junto aos operários. Isso aconteceu com o senhor também?
Teve um episódio curioso. Fiquei preso durante cinco horas. Houve greve em uma empresa em São Bernardo e fomos entregar os boletins do sindicato para os representantes das entidade. Ficamos na calçada em frente ao piquete. Nem deu tempo. A polícia chegou e já me prendeu ali. Me jogaram no camburão me acusando de portar material subversivo, incentivando a greve e coisa e tal. Em outra oportunidade estava em frente a uma empresa em greve para desenhar detalhes do movimento quando veio um policial e me deu uma borrachada que não esqueço até hoje. Depois disso, trabalhei por dez anos na maioria dos sindicatos do Grande ABC e de São Paulo produzindo boletins e charges. Durante um período me tornei cartunista fixo no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, que depois foi unificado com o de São Bernardo, onde montou-se grande departamento de imprensa, com 25 profissionais entre fotógrafos, jornalistas redatores e cartunistas. Eu e o Paulo César, o PC, nos revezávamos entre tiras e charges. Lembro que um dos jornais que produzíamos, A Tribuna Metalúrgica, tinha tiragem de 45 mil exemplares. Nessa época, aprendi muito, pois nunca tive formação acadêmica nem nada. Sempre fui autodidata. Com essa experiência em sindicato aprendi muito sobre ética, sobre aquelas coisas que você pode ou não fazer, enfim, toda essa questão social do trabalho.
Como apareceram as tiras para a grande imprensa?
Nessa época conheci muitos profissionais de grandes jornais, pois eles iam aos sindicatos cobrir pautas sobre os trabalhadores e economia. Dessa forma conheci um jornalista do Diário Popular, o Antonio Diniz, que me contou que o contrato de antigos colaboradores estava terminando. Fui lá e logo de cara foi aprovada minha tirinha que se chamava Ócios do Ofício e fui fazendo as peças sem personagem fixo. Eu não tinha que ir ao jornal, mandava as tiras de casa diariamente. O curioso é que depois de uma semana fui demitido do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo por motivos econômicos e administrativos. Publiquei no Diário Popular cerca de sete anos e acabei gostando muito dessa linguagem das tiras, tanto que criei um patrimônio em torno de 2.500 tiras, que me renderam quatro livros de coletâneas. Depois, o Dipo (apelido do Diário Popular) mudou de nome e de dono. Fui demitido.
Nas redes sociais, se intitula o ‘Cartunista das Cavernas’. Explica isso.
Eu passei a trabalhar em casa e percebi que dessa forma poderia produzir muito e atender vários jornais. Passei a publicar tiras no suplemento Folhateen da Folha de S.Paulo. As tiras que eu produzi no Diário Popular passei a distribuir para jornais de outros Estados e do Interior de São Paulo e também Portugal. Fiz dois livros pela editora Devir que depois foram adquiridos pelos governos federal e estadual através de programas de incentivo cultural. Lembro que tivemos boas tiragens por meio desses programas. Na época, em 2004 e 2005, quem vendeu muito para o governo na Devir fomos eu, o Will Eisner e o Fernando Gonsalez. Foram 33 mil exemplares, um marco bem significativo para venda de livro no Brasil. Fiz também tiras para outras editoras, como a Globo, Abril. Sempre tirinhas, uma linguagem que dominava bem.
Ainda não explicou o ‘Cartunista das Cavernas’.
Estava conversando com o Fernandes e decidimos trabalhar juntos, entrando em contato com editoras. Achei o máximo trabalhar junto com ele, pois já era fã de seu trabalho. Abrimos a Boitatá Ilustrações em maio de 2005 e começamos a fazer livros didáticos para editoras como a Moderna, FTD e outras durante muito tempo. Um dia ele me perguntou se não queria trabalhar no jornal. Na época, em 2007, o Ricardo Girotto, outro ilustrador, havia saído e fiquei com receio, pois estava muito estabilizado produzindo sozinho sem muita relação com seres humanos (risos). Tenho dificuldade de me relacionar. Somatizo muito os problemas periféricos. Mas era coisa que eu precisava resolver, pois se você mora em uma região que tem um grande jornal e é ilustrador, logicamente vai querer trabalhar naquele veículo. Tinha chegado a hora de resolver essa questão. Topei. Aí fui ilustrar para o Diário, fazendo coisas para o Diarinho, outras ilustrações para colunas e revezando as charges com o próprio Fernandes e o Seri.
Por que saiu do jornal?
Por problemas pessoais, depois de dois anos e dois meses resolvi sair. Tem aquela coisa turbulenta de um jornal. Acho que tem caras que são de redação. Eu não sou e descobri isso ali. Caras como o Fernandes e o Seri têm dispositivo para se dar bem, fazendo piadas. É dispositivo para sobreviver à pressão de uma redação. Senti que não consegui. Primeiro que para fazer as criações é muito barulho, televisão ligada, repórter saindo correndo, aquele frisson, adrenalina e eu agitado por conta disso. Aí voltei para casa como colaborador do Diário por mais algum tempo. Fiz tiras e ilustrações para outras revistas e jornais, até que a coisa degringolou para o lado da imprensa. Vários jornais fecharam, alguns ainda respiram por aparelho, todo o mercado editorial em crise e isso afetou muito a gente, cartunistas e ilustradores. Hoje são poucos veículos como o Diário, que mantêm ilustradores contratados trabalhando na própria redação. Isso praticamente não existe mais em lugar nenhum. É muito raro.
E daqui para a frente, quais são as suas perspectivas?
O lance é se readaptar, reciclar, ver novos caminhos para se manter vivo no mercado. Agora mesmo estou encarando desafio que é o de fazer história em quadrinhos, projeto de HQ de 120 páginas junto a um roteirista. Já fiz livros em quadrinhos em parceria com o Fernandes, dividindo tarefas, mas pegar a peteca sozinho é novidade para mim.
Por que quadrinhos?
Participei de muitos eventos de quadrinhos nestes últimos anos, como o Festival Internacional de Quadrinhos em Minas gerais (FIQ), outro em Curitiba (Gibicom), em São Paulo (CCXP) e no Rio. Quis sentir isso de perto. Era uma coisa meio estranha para a gente, ter o autor ali em frente aos fãs, coisa que já acontece há muito tempo na Europa e nos Estados Unidos. Novidade por aqui. Agora estes acontecimentos deram uma esfriada porque muitos autores apareceram, gente nova, muito boa, mas o mercado não ofereceu crescimento de leitores de quadrinhos. Não houve aumento no consumo. Então, você produz um livro em quadrinhos para público de 1.000 pessoas. O que se precisa fazer é ampliar o leque de leitores. A gente está esperando retomada nesse setor, pois o Brasil ainda tem muito que crescer nesse mundo dos quadrinhos. Minha expectativa é que isso se renove nos próximos anos.
Como o senhor vê o mercado de desenho de humor no Grande ABC?
O mercado do Grande ABC é muito fraco. Tem muita gente boa. Mas eles não têm onde exibir seus trabalhos. Os artistas daqui fazem o que se faz no Interior: vão para fora. Temos artistas daqui que fazem quadrinhos para os Estados Unidos. Aqui deveria ter mais exposições, mais contato com o público. A região segue muito carente no aspecto artístico. Acho que as pessoas nem sabem que existem cartunistas. Mas quem é que vai fazer isso? Quem vai produzir tudo isso? A nossa tarefa é ali na prancheta, produzindo.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.
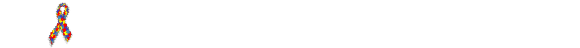


 Santo Andre 17° C
Santo Andre 17° C
 São Caetano 20° C
São Caetano 20° C








