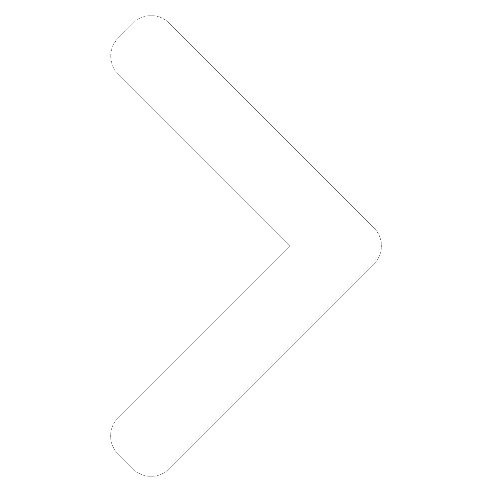 Nas grandes cidades
Nas grandes cidades Indiferença, vícios, falta de apoio e ausência do poder público são parte das queixas na vida de moradores de rua da região
Do Diário do Grande ABC
 DGABC
DGABC
Vivem à margem da sociedade. Passam os dias nas ruas, solo fértil à violência de todo tipo. Dormem – quando dormem – sob viadutos, marquises, ao relento, sujos. Comem quando há possibilidade ou doação. Vestem-se mal. São destratados, humilhados, rejeitados. Agredidos pelo preconceito. Sob olhares desconfiados, passam medo, fome, sede. Têm extrema carência material. Uns escolheram esse fardo, outros não tiveram opção e a alguns a imposição cruel do destino. Corriqueiros a todos eles a ausência do poder público, indiferença em relação aos festejos, falta de amparo familiar, vícios. É constante a busca por boa alma que lhes dê umas moedas. São os moradores de rua, ou mendigos, mendicantes, pedintes, indigentes ou qualquer outro qualificativo estabelecido por seu ‘semelhante’. O Diário percorreu a região para dar voz a esses seres humanos, que, na maioria das vezes, são praticamente invisíveis aos olhos de boa parte da população e, mais ainda, do poder público, que pouco faz para garantir o mínimo bem-estar a eles, já tão carentes de esperança.
Exemplo dessa gente em vulnerabilidade social, Genival Nascimento da Silva, 52 anos, cansado das tantas vezes em que foi expulso da estação ferroviária de Rio Grande da Serra, improvisou barraco sob árvore em área verde próximo à linha do trem que corta a cidade, feito de restos de madeira, panos e plásticos. Ao redor, restos de comida, sapatos e garrafas PET. De abundante só a quantidade de mosquitos. Buzinas e barulho dos trens, que passam a 50 metros do precário casebre, formam a indesejável trilha sonora. Dividem o local com ele quatro cachorros, os inseparáveis Branca, Neguinha, Bob e Plugue. Para comprar o básico ele vende plantas que retira no próprio matagal, como palmeiras e orquídeas. Doações e alimentos recebe de “irmãos” de igreja próxima. “De domingo levam nós (sic) para tomar café da manhã, almoçar e assistir ao culto.”
A Prefeitura, reclama, não ajuda em nada esse sul-mato-grossense, que veio ainda “molecão” para São Paulo antes de se instalar na cidade da região. Diz ter ficado 23 anos em um casamento, que terminou devido às constantes desavenças com a mulher. Os motivos, reconhece, eram “problemas com drogas”, que também o levaram às ruas. A ex-mulher e a filha, 28, moram em São Mateus, distante o bastante para manter a falta de contato, que já dura cinco anos. Os R$ 20, R$ 30, em média, diários com a comercialização das plantas são usados para, além de suprir parte das necessidades, comprar cigarro e a cachaça. “Mas não sou dependente”. “Agora só quero vender minhas plantas, essa é minha esperança de conseguir dinheiro e melhorar de vida. Infelizmente é difícil, mas é a vida que a gente leva.”
Outra história triste, esta na vizinha Santo André, é a de Marcos Roberto Neri, há 12 anos perambulando pela região central. Ele revela que se “jogou” nessa vida depois da morte dos pais, que tinham vindo do Capão Redondo para o Parque Novo Oratório. Considera-se apenas “mais um” e demonstra conformidade com a doença causada pelo terrível vírus. “Se eu pegar a Covid e ela vier forte, não tem jeito, porque os hospitais estão lotados, não tem para onde correr. É esperar a morte. Um a menos. Tem mais, se não fossem as igrejas de crente, a católica, espíritas e até as de macumba a gente não ia ter máscara, álcool gel e ainda ia passar fome”, desabafa.
Ex-montador de estruturas de circos e parques de diversão, hoje recolhe recicláveis. A falta de emprego ele credita ao preconceito aos que vivem nessa situação. “Mesmo na reciclagem, veem a gente com saco de papelão, de latinha, nas costas e acham que a gente vai roubar, que é ladrão, noia. Que o prefeito que ganhou, de novo, faça alguma coisa por nós, porque o bagulho tá loco (sic), morrendo muita gente. A sorte é que nós, que estamos na rua, Deus olha por nós. Mas o bicho vai pegar.”
‘JESUS TE AMA’
Mais uma a viver na mendicidade é Maria Eduarda, apenas 18 anos. Desconfiada, sem revelar sobrenome nem permitir-se fotografar, entrega que problemas familiares e vícios em drogas a levaram à rua, há um ano. Há seis meses conheceu Junior Guerra Martines, 27, peruano que veio ao Brasil oferecer seu artesanato, mas, assaltado, perdeu tudo. Ambos vendem balas nos semáforos. Pretendem juntar dinheiro para alugar casa e poder sair de onde por enquanto ‘moram’, a barraca de camping sob o Viaduto Juceslino Kubitschek, no Centro andreense.
Denuncia não ter para onde ir, mas que não será no “albergue” (Casa Amarela), porque é “lugar ruim, pesado”. Nesta época de fim de ano, de festas, segundo Maria, é ainda mais difícil lugar para dormir, porque os donos de lojas “não querem mendigos” em suas portas. Também não tem o que celebrar. A única diferença é que neste período tem “menos gente nas ruas, as pessoas estão com suas famílias, e fica mais difícil arrumar comida”. Queixa-se da falta de educação das pessoas e das agressões verbais, xingamentos e humilhação. Às pessoas que, como ela, vivem esse drama, pede um pouco de empatia. “A gente é igual todo mundo. Só não tivemos talvez a mesma oportunidade de ter família estruturada. Que as pessoas tenham mais noção. Esquecem que existe algo mais. Natal é Jesus, é Cristo. Seja igual a Ele, ame teu próximo. Às vezes quem está na rua só quer um abraço, não é nem dinheiro. Quer que alguém chegue e fale: ‘Jesus te ama e você vai ter futuro legal, é só acreditar. A gente precisa disso, mais incentivo do que julgamento.” Empatia. Essa é a palavra.
Assaltado na chegada, Adaumirton tem sonho de voltar para a Paraíba
Adaumirton Maravilha de Queirós, 26, foi traído pela mulher. Eram casados havia nove anos. Mas ele pede para pular essa parte, prefere guardar, a contragosto, na parte das más recordações. “Acho melhor não falar sobre isso, vai ficar guardado para mim mesmo. Me desgostei e vim para a rua.” Infeliz, não sem motivos, sentiu que a cidadezinha de Bonito e Santa Fé, na Paraíba, só o faria lembrar do funesto acontecimento. Juntou pertences e desembarcou em São Bernardo. Logo na chegada à cidade outra tribulação. Foi assaltado no mesmo dia. “Levaram minha bolsa, e dentro tinha meus documentos e meu celular. Perdi todos os contatos, não lembro nenhum de cabeça. Não sei como está minha família e eles não sabem como está minha vida, na rua.” Faz um mês que vagueia pelo Largo Santa Filomena, junto à capelinha, e diz se virar como pode. Movimenta-se em busca de emprego com a intenção de juntar dinheiro para voltar para casa. “Trabalho quando aparece um trampinho aqui ou ali, fazendo um biquinho ou outro. Vou nas obras, ‘caço’ serviço. O que aparecer eu faço.”
Ele é mais um descontente com o poder público e com o preconceito quanto aos cidadãos dessa camada social. Nota olhares tortos, não se conforma, mas mantém a serenidade. Questionado quanto ao afastamento dos familiares, Adaumirton tenta acobertar a tristeza, entretanto, lágrimas escorrem pelo rosto sofrido. “Não tenho prazer de nada (festas). Sinto muita saudade deles (familiares). Quero voltar para minha casa, minha terra. Só falta emprego, para juntar o dinheiro e comprar a passagem. Aqui não era o que eu esperava.”
Aos 9 anos Cristiano foi à rua; depois, prisão, 29 tatuagens e duas balas alojadas no corpo
Ao passar pela Praça da Moça, em Diadema, nota-se considerával agrupamento de pedintes, tanto homens quanto mulheres. Um desses é José Cristiano da Silva Santos, 37. Logo nas primeiras palavras já assume sua porção de culpa pela vida que leva. Considera-se a ovelha desgarrada da família. O pai morreu quando ele tinha 7 anos. Aos 9, por conflitos com o padrasto, foi às ruas, onde aprendeu a usar cocaína e crack. Em 1998, por má influência, segundo ele, a prisão , “peguei o 157” (assalto à mão armada), sintetiza. Passou por inúmeras penitenciárias, nas quais fez 29 tatuagens no corpo. Duas delas, relata ele, são mal interpretadas pela polícia e responsáveis por duas balas alojadas no corpo, uma na nuca e outra na barriga. Simbolizariam, explica, ‘matador de policial’, a do Chuck, personagem de filme de terror, e o Palhaço.
Há 27 anos está na rua>, mas já foi casado, com uma moça também da rua. Tiveram um filho, atualmente com 19 anos e morador de Mongaguá, no Litoral. A mãe de Cristiano morreu em 2019. Fez a 8ª série e o 1º e 2º anos do ensino médio na prisão. Reclama do tratamento oferecido pela Prefeitura. “Está equivocada, não ajuda adequadamente. O Centro Pop é sujo, a privada não tem condições de uso, só tem um vaso sanitário, a maioria dos chuveiros está queimada. Também não tem um início de conversa, tipo ‘já tomou café?’, ou ‘o que você está precisando?’”
Cristiano comemora a liberdade, se diz saudável, não desanima e segue vendendo balas no semáforo. Necessita de oportunidade, apesar de saber que a passagem pela prisão dificulta. “Só quero me levantar. Não estou mentindo, não preciso mais. Graças a Deus estou aqui, demonstrando para a sociedade que sou ser humano.”
Traição, desilusão e depressão distanciaram Renato dos espetáculos
Traição, desilusão e depressão foram os motivos que levaram Renato Arrazi Sanches, 41, às ruas. “Traição da minha ex-mulher. Desilusão por não ter conseguido as coisas que tentei. E depressão por não ter ajuda do próximo. Acabei ficando sozinho e decidi viver nessa vida.”
Tem uma filha, fruto do casamento de quatro anos. A garota, lembra ele, mora em São Caetano e fez 18 anos no último dia 18. Mas tem pouco contato, porque, diz, com os olhos mirando o chão, “ela sabe da minha situação.” Comunicativo, esse andreense diz que por falta de emprego recolhe papelão pelas vias de Ribeirão Pires, e é do dinheiro da venda que muitas vezes alimenta a si e ao vício do cigarro. É técnico de iluminação, com “vários cursos”. “Trabalhei com diversas bandas renomadas no mercado musical. Fiquei bom tempo com o Frank Aguiar, outro com a Ivete (Sangalo), fiz festivais de verão como operador de moving ligth, que é o cara que instala todas as luzes no palco”, explica.
Este fim de ano vai ser ainda um pouco pior, porque a mãe, único contato frequente, morreu há três meses, vítima de câncer. Ela morava em Cerquilho, Interior, e ele estava em Florianópolis, um dos muitos lugares que diz ter visitado, sempre na rua, esperando ajuda. “Vou pingando de cidade em cidade.”
Também já provou da maldade do ser humano pela sua condição social, ou a falta dela. “Sofri muita violência. Uma vez na Barra Funda jogaram piche em mim enquanto estava dormindo na Rua Bianca, em frente ao Allianz Parque, porque sou palmeirense (aponta para escudo do time tatuado no antebraço).”
Também critica a discriminação por parte da polícia. “Vê a gente como lixo, a escória da sociedade, mas não chega para conversar, perguntar se estamos precisando de alguma coisa, se queremos ajuda. É sempre na truculência.”
Demonstra esperança, diz esperar por mudanças – tanto da polícia quando da Prefeitura, para que tenham “mais visão para a classe mais pobre” –, mas termina dizendo que pessoas como ele repetem erros que só as prejudicam “Tem gente que passa a vida inteira travando inútil luta com os galhos, sem saber que é lá no tronco que está o curinga do baralho”, encerra, citando trecho da música O Coringa do Baralho, de Raul Seixas (1945-1989).
Por causa da bebida Celino ouviu do filho: ‘Some sem-vergonha, vagabundo’; ele sumiu
Sentado na escadaria de acesso à estação de trem de Mauá ou na calçada lateral do local, curvado à frente, triste, Celino Ferreira de Lira, 58, nem nota a agitação devido às compras de fim de ano. Mora na rua há três anos. No início da conversa ele tenta evitar o choro, diz que já comemorou muito com os familiares os festejos desta época, mas que, agora, as celebrações não alteram sua rotina. “Para mim não significam nada, não fazem sentido nenhum.”
Garrafinha de cachaça na mão, o ‘corotinho’ ou ‘duelinho’, revela que carrega vício em bebida alcoólica desde os 14, 15 anos, período em que relata insônia crônica, o que o fez beber para conseguir dormir. Na época morador de Carapicuíba, Região Metropolitana de São Paulo, trabalhava na Casa Bevilacqua, tradicional loja de instrumentos musicais na Capital, na qual ficou por 30 anos. Casou e teve um filho.
Ao sair de lá comprou pastelaria em São Caetano. Mas a solução para a insônia se transformou em dependência: bebia para dormir, acordava para beber. Ainda assim o comércio prosperava, mas, junto, progredia também a ansiedade, que fazia com que bebesse mais e não mais só a “cervejinha”. “Quando percebi já era tarde. Expulsava minha clientela. Um dia fui na casa do meu filho conversar sobre isso. Tinha dado tudo para ele, comércio, carro e principalmente educação. Por causa do vício ele disse para mim: ‘Some daqui seu vagabundo, sem-vergonha’. Sumi.” Magoado, fez questão de que o contato com a família caísse no esquecimento. “Fechei o comércio em São Caetano e vim para Mauá. Minha amiga me recebeu. Gosto muito de Mauá, não saio daqui.”
Em relação à pandemia, com a voz baixa e pausada, diz se sentir desamparado pela Prefeitura, “jogado. “Tento correr do perigo sozinho”. Não demonstra esperança de melhora, confessa que quer mudar, mas que necessita de amparo. “As pessoas precisam dar apoio, tirar a gente da rua, porque é muito sofrimento e eles (poder público)< têm condições. A gente quer diálogo. Não é só um prato de comida.”
O que as prefeituras dizem dessa situação
Santo André informa que a cidade abriga 300 pessoas em situação de rua. A Prefeitura diz que desde maio equipes da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, intensificaram abordagens a esses indivíduos devido à queda de temperatura e também por causa da pandemia do novo coronavírus. Kit com máscara, lanche, roupas e cobertor é oferecido aos que se negam a acompanhar a equipe às casas de acolhimento na cidade. Houve, ainda neste ano, criação de abrigo emergencial a essas pessoas e também pertencentes ao grupo de risco da Covid-19, local no qual permanecem 24 horas, recebem refeições e alojamento, além de atividades sociais e educativas. Essas ações serão mantidas para 2021.
São Bernardo não informou o número exato de moradores de rua na cidade, mas, por meio da Secretaria de Assistência Social, relata que durante a pandemia são atendidos em média 360 indivíduos nessa situação pelo serviço de abordagem social e cerca de 270 no Centro Pop. Na Casa de Passagem há 130 vagas ao público masculino e 20 ao feminino. Também foi aberto espaço aos fins de semana no prédio do Centro Pop para higienização, além da descentralização das vagas de acolhimento, oferta de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), álcool gel e máscaras aos usuários.
São Caetano tem 68 indivíduos que perambulam pelas ruas da cidade e outros 21 acolhidos. Equipes de abordagem social percorrem as vias públicas em busca dessas pessoas para orientações sobre a situação e devidos cuidados. Antes do acolhimento, elas passam por atendimento em UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para os protocolos de saúde. Se não há o interesse em ir para os abrigos é feito encaminhamento para banho e alimentação, além de, dependendo da região de permanência de cada um dentro do município, transporte para acessar os serviços.
Mauá tem entre 100 e 140 indivíduos nessa situação de rua, segundo a administração municipal, que faz atendimento psicossocial, oferece alimentação, banho, roupas, orientações e ações de prevenção ao coronavírus. Foi intensificada a distribuição de equipamentos de proteção individual e kits com sabonete, álcool gel e máscara. Também houve a testagem da Covid a essas pessoas.
Também procuradas, as prefeituras de Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não haviam respondido à demanda até o fechamento desta edição.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.
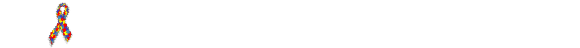


 Santo Andre 21° C
Santo Andre 21° C
 Mauá 25° C
Mauá 25° C








