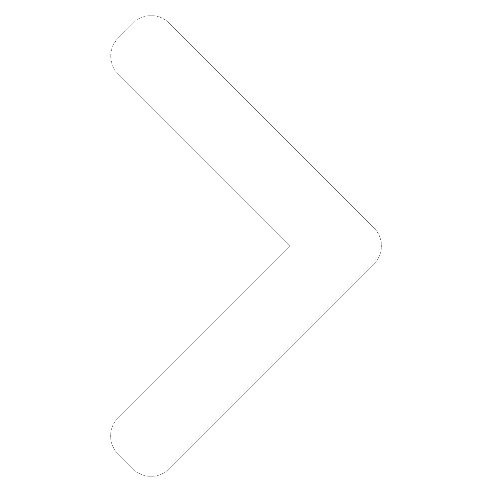
Do Diário do Grande ABC

Um garoto humilde que encontrou nas luvas de boxe chance para mudar a realidade em que vivia. Subiu ao ringue com 12 anos, venceu adversidades e com 20 conquistou a primeira medalha olímpica do Brasil no boxe, ao ganhar o bronze no peso-mosca nos Jogos da Cidade do México, em 1968, quando já era atleta da Pirelli, em Santo André.
Antes de chegar ao auge, com 23 anos, viu a carreira interrompida por descolamento de retina. Tentou voltar e parou definitivamente em 1978, quando foi impedido de lutar no Chile.
Descobriu o lutador Valdemir dos Santos Pereira e, pelas mãos do pupilo, realizou seu grande sonho: conquistar o mundo.
Servílio de Oliveira e o Diário
Quando chegou à Pirelli, em 1966, aos 18 anos, Servílio de Oliveira já sabia que seria boxeador de sucesso. Transbordava de confiança após ter superado as dificuldades financeiras do início da carreira e ter subido pela primeira vez em um ringue com 12 anos. O Diário noticiou tudo, o acompanhou de perto, seguiu seus passos e se orgulhou quando trouxe a 14ª medalha da história brasileira em Jogos Olímpicos. “Lembro que o Diário sempre estava por perto, fui personagem em várias reportagens. O jornal foi e ainda é de fundamental importância para o boxe e para toda a sociedade”, ressaltou o ex-boxeador.
Em 1968, quando o senhor foi para os Jogos Olímpicos da Cidade do México, tinha ideia de que conseguiria a medalha?
Como o Brasil é um País jovem e participou pela primeira vez da Olimpíada em 1920, em 1968 nós não tínhamos tanta representatividade. Se formos analisar, minha medalha foi a 14ª de um brasileiro, sabia que não era fácil, mas tinha vontade de chegar lá e se tivesse um pouco mais de experiência dava para ter buscado o ouro. Tenho o videotape da luta e te falo: não perdi. Dá tristeza o resultado, mas o mexicano (Ricardo Delgado) fez a parte dele (venceu por 3 a 2 em decisão muito discutida entre os árbitros). Para você conquistar algo lá fora não basta vencer, tem de convencer.
Quando caiu a ficha de que você tinha conquistado uma medalha olímpica?
Minha medalha foi a primeira no boxe e a única por 44 anos, até 2012. O que mais me emocionou foi quando recebi a medalha ver a Bandeira do Brasil ao lado da de Uganda, México e Polônia. Tenho essa foto, ainda me emociona.
O senhor começou muito cedo, subiu ao ringue com 12 anos. Quem te inspirou?
Com a aparição do Éder Jofre a periferia queria lutar boxe e meus irmãos mais velhos compraram luvas para treinar. Quando eles iam para a escola eu chamava meus amigos para ir em casa treinar, tanto que quando cheguei na academia já tinha postura e fui melhorando. Uma pena que na década de 1960 não tinha autorização para menor de idade praticar boxe, como é liberado hoje...
Havia muito medo com a parte neurológica das crianças?
A grande verdade é que o boxe sempre teve certo preconceito. Hoje aplaudem o MMA, que é três vezes pior. Naquela época não autorizavam crianças a participar, hoje não tem mais tanto preconceito. Meu neto, com 17 anos, já tem 40 lutas e está a caminho dos Jogos Olímpicos, tem tudo para ir para Tóquio 2020.
Além da idade, quais outros problemas enfrentou?
Sou de origem muito humilde. Meu pai era um simples pedreiro, minha mãe, dona de casa e, às vezes, não tinha grana para ir treinar. Meu técnico, o Arthur Ferreira, me ajudava. Depois disso cheguei na Pirelli, em Santo André, em 1966. Ali as coisas melhoraram. Aqui em Santo André evolui fisicamente e tecnicamente, tinha muito mais estrutura.
Nesta época já tinha convicção de que seria boxeador?
A convicção tinha desde o início. Sabia que iria ser lutador, que tinha potencial. O pessoal que não conhece boxe se engana, acha que tem de ser grande. O boxe é a modalidade mais democrática que existe, tanto o cara de 48 quilos como o de 200 quilos podem participar. Diferente do futebol, do vôlei, onde é preciso que o cara tenha mais físico.
O boxe sempre foi relacionado com a periferia. Os boxeadores, de uma forma geral, têm mais brio por conta disso?
No boxe o cara precisa ser raçudo, brigador, precisa vir de baixo, ter alguma necessidade, não que tem de ser miserável, mas gente que já sofreu.
O que mudou na sua vida depois da medalha de bronze?
Quis me profissionalizar e a Pirelli deixou claro que se fizesse isso não poderia voltar. Pedi a conta. Queria buscar voos maiores. No Brasil tudo é difícil. Em 1969 profissionalizei, na quinta luta fui campeão brasileiro, na nona fui campeão sul-americano no Equador e fui subindo até chegar ao terceiro lugar do ranking mundial, quando, em 3 de dezembro de 1971, sofri o descolamento de retina e fui morar no Chile.
Como foi que essa luta em 1971 mudou sua carreira para sempre? Como o senhor soube do descolamento de retina?
A questão do descolamento de retina não é algo que aconteceu na luta, foi progressivo. Naquela época eu pegava forte e os meninos do meu peso (mosca) não aguentavam. Então, para treinar mais forte enfrentava sparrings mais pesados, lutava com caras maiores, mais pesados e um soquinho aqui, outro ali... Meu treinamento era duro, não tinha essa de pegar leve. Penso que isso que caracteriza o campeão, tem de ser 100%, não admitia ninguém me superar. Para chegar tem de treinar duro.
Quem deu a notícia ruim ao senhor?
Fiquei com a vista enorme, continuei, ganhei, mas ficou muito inchado. Com o passar dos dias percebi que baixou a visão e fui para Minas Gerais. Fiz a cirurgia, mas perdi a visão do lado direito.
Foi nesse período que o senhor foi morar no Chile?
Sim, fui para lá a turismo e conheci uma menina que hoje é minha mulher (Mariana Victória Chalot del Campo). Casamos em 1972, inclusive meus dois filhos mais velhos (Gabriel e Ivan) também são chilenos. Morei no Chile de 1970 até 1976, quando voltei ao Brasil.
Quando o senhor sofreu a lesão tinha 23 anos, nem no auge havia chegado. O que projetava para sua carreira?
Podia ser campeão do mundo. Tinha isso em mente. E tinha condições para isso. Penso que se não tivesse ficado no Brasil, tivesse ido para qualquer outro país eu teria sido campeão do mundo.
Por quê?
Penso que as pessoas que estavam por trás de mim não eram experientes. Para ser um manager precisa ter conhecimento e os caras tinham dinheiro, mas não manjavam nada de boxe. Se estivesse na Argentina ou no México... Perdi a oportunidade. Se tivesse outra cabeça teria ido embora.
Em 1978 o senhor foi impedido de continuar a carreira no Chile. Como foi isso?
Tinha ido ao Chile para desafiar o Martin Vargas pelo título sul-americano. No dia do exame o médico pediu para eu fechar a vista boa e viu que eu não enxergava nada com a outra. Não me liberaram. Tinha feito cinco lutas e vencido todas (depois do descolamento de retina). Os caras sabiam do meu potencial. Disseram que estavam protegendo minha integridade física, mas estavam protegendo o chileno. Já se passaram 40 anos e ainda não concordo com aquela decisão. A maior decepção da minha vida foi não poder ter feito aquela luta, queria mostrar meu potencial na terra da minha mulher, dos meus filhos, país que é minha segunda pátria. Foi derrota sem subir ao ringue.
Depois disso o senhor parou?
Voltei para a Pirelli. O (Antônio Angelo) Carollo (ex-técnico) me ajudou. Tinha uma norma na Pirelli que quem pedisse para sair não voltava. Eu voltei porque o Carollo me ajudou. Ele era um pai para mim. Fez a cabeça dos dirigentes e me trouxe como seu auxiliar.
Na sequência o senhor reapareceu como manager do Valdemir dos Santos Pereira, o Sertão, campeão mundial de boxe em 2006. Como foi isso?
Depois que saí de Santo André resolvi trabalhar sozinho na AD São Caetano, que abriu suas portas. Fiquei 18 anos lá. Eles me davam condições para trabalhar e foi lá que conheci o Sertão. Ele treinava em Santo André, tinha disputado os Jogos Olímpicos de 2000 e queria voltar para Cruz das Almas (na Bahia). Vi condições nele e o segurei, arrumei uma grana, na época uns R$ 2.000 por mês, e ele foi indo. Morando e treinando lá em São Caetano foi campeão do mundo.
Muita gente relaciona sua imagem com a do Sertão. O senhor via nele a concretização do seu sonho de boxeador?
Lembro que tem reportagem enorme do Diário que mostra lá trás, há muito tempo, que eu dizia que não tinha sido campeão do mundo, mas que um pupilo meu seria. Fui campeão pelas mãos dele. Foi uma pena que ele se perdeu, ficou bem doente (contraiu doença infectocontagiosa), mas tinha potencial incrível.
Nesse período seus filhos participaram da sua vida no boxe. O senhor sente orgulho que eles tenham se envolvido?
Sim, muito. Hoje dois deles são técnicos de personalidades do UFC. Meu filho Pitu (Ivan), o menor, era o técnico do Sertão quando ele foi campeão do mundo e hoje é técnico do Demian Maia (lutador de MMA), já trabalhou com o (Maurício) Shogun Rua. Meu outro filho, o Gabriel, treinou o Victor Belfort. Eles se dão muito bem. Legal quando o filho alcança o pai, isso acontece quando o pai foi bom professor.
Quais são suas apostas para o futuro do boxe?
Temos um menino aí, o Manchinha, que já fez três lutas como profissional... Pode escrever o nome dele, vai chegar. Vamos trabalhar com ele gradativamente. Escolhemos a data de estreia dele para 20 de janeiro porque foi neste dia que o Sertão foi campeão do mundo. Daqui um ano e meio ou dois, vai virar. No boxe olímpico aposto no Luiz Gabriel, o Bolinha, que é meu neto. Esse já é realidade para a Olimpíada de Tóquio-2020. Já está com 40 lutas. Ele é filho do Pitu e é a nossa aposta na família. É bom para caramba, não demonstra medo.
Entre idas e vindas o senhor mora no Grande ABC há 30 anos. Como vê a importância do Diário para a região?
Acho que o jornal tem importância fundamental. O Diário prestou e presta um excelente trabalho para a sociedade. Tem de tirar o chapéu. De verdade mesmo. Estou com 70 anos (vai completar no dia 6 de maio) e estou falando porque acompanhei a trajetória do jornal e sei da sua importância para todos os setores da sociedade, principalmente para o esporte. Foi importante na divulgação da modalidade quando poucos a conheciam e ainda é. Fui personagem em muitas reportagens do jornal e as guardo com muito carinho.
O senhor se lembra de ter sido personagem do Diário no começo da carreira?
Olha, tenho muitas reportagens do Diário sobre mim e a minha família, do nosso envolvimento com o boxe. Quando fomos para os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá (1967), o Diário estava sempre por perto, nos treinos. Cobria tudo mesmo.
O senhor teve uma passagem pela política, mas não seguiu. Não é sua praia?
Fui candidato a vereador em 1992 em Santo André, foi a primeira e última vez. Em Santo André as pessoas não valorizam quem é daqui. Para você ter ideia, quando se tratou de me convidar para carregar a tocha olímpica, em 2016, estavam colocando em questão meu nome, isso me magoou. Os caras são forasteiros, não sabem nada, não têm a sensibilidade de ler, de saber quem é quem. Ninguém é obrigado a saber, mas os caras não queriam nem saber. Santo André tem tudo para voltar a ser a capital do esporte, mas com esses forasteiros não dá.
Hoje os pugilistas que se destacam no boxe olímpico logo migram para o profissional. Acha que esse é um caminho natural em busca de melhores salários?
Sim, é um caminho natural, mas no caso do Esquiva Falcão, não. Faltou sensibilidade por parte do Comitê Olímpico Brasileiro e da confederação. Teríamos a Olimpíada de 2016 aqui, teria de segurar os melhores. Dinheiro tinha, mas, lamentavelmente, quem sua a camisa é quem menos vê dinheiro. Depois de Londres-2012, se segurasse o Yamaguchi (bronze), o Esquiva (prata), o Everton Lopes (campeão do mundo), mas não quiseram.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.
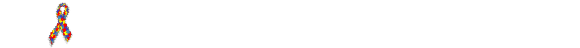


 Santo Andre 15° C
Santo Andre 15° C
 Mauá 17° C
Mauá 17° C
 Rio Grande da Serra 16° C
Rio Grande da Serra 16° C







