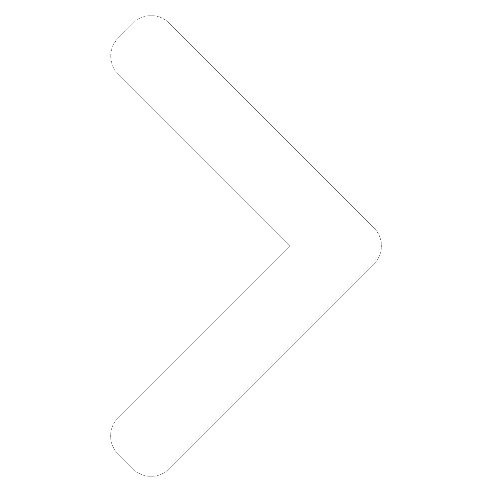 Entrevista da semana
Entrevista da semana Vencedor do Troféu HQMIX, artista Alex Mir, de Mauá, conta de sua trajetória
 Denis Maciel/DGABC
Denis Maciel/DGABC
Morador de Mauá, Alex Mir, 42 anos, tem compromisso marcado para domingo: subir ao palco do Sesc Pompeia, em São Paulo, para receber o Troféu HQMIX, a maior premiação das histórias em quadrinhos do Brasil. Ao lado dos parceiros Al Stefano (arte e cores), Alex Genaro (arte) e Omar Viñole (cores), ele venceu na categoria publicação independente de grupo por Orixás – Em Guerra, no qual explora a mitologia africana.
Em 2010, ele recebeu a honraria como roteirista revelação por Tempestade Cerebral. Ele faz parte de geração que aproveita abertura do mercado editorial para obras nacionais que jamais imaginou ver em seu País.
A ideia de trabalhar com quadrinhos passa muito pela imagem do desenhista como figura central. De onde surgiu a vontade de ser roteirista?
Aprendi a ler com quadrinhos. Tinha entre 6 e 7 anos e meu pai comprava as HQs. Devorava tudo que recebia. Meu primeiro quadrinho foi um Superman número 1, acho que foi em 1984, em formatinho ainda. Comecei a criar meus próprios contos quando tinha 12 anos. Profissionalmente minha carreira começou por volta dos 16, 17 anos, quando buscava algo perto das editoras.
O que é preciso para se reunir informações e desenvolver um roteiro? O que um bom roteirista deve fazer?
Tudo é importante e você absorve o que é interessante para saber o que e o que não fazer. Leio muitos livros e quadrinhos, vejo diversos filmes e séries. São coisas que formam sua cabeça e alimentam a criatividade. Com esse recheio é que você encontra referências e ideias para querer escrever. Depois você começa a entender melhor seu próprio jeito de escrever. Demorei bom tempo para saber como é meu estilo de escrita, compreender o que eu queria escrever.
Como uma boa história chama a atenção do público?
É preciso um bom roteiro, uma trama interessante e personagens que sejam fortes, cativantes. Uma história tem que prender o público e causar emoção, seja riso, lágrimas, raiva ou ódio. Que tenha algo instigante o bastante para gerar reação em quem lê e marque a lembrança dessa pessoa por conta das emoções que surgem. Tem que existir um pouco de surpresa também.
Houve grande abertura para a produção de quadrinhos no Brasil. Você acredita que estamos em meio a fase diferenciada para que mais obras nacionais possam encontrar seu espaço no mercado?
Desde 2007 começou a se montar uma estrutura melhor no mercado. Os quadrinhos do Brasil parecem ser feitos de acordo com diferentes fases e picos. Houve o momento de heróis nacionais que ficaram bem populares, casos de Capitão 7, Judoca e Homem-Lua, a fase do terror, até os anos 1980 e os contos noventistas voltados à ficção científica. Todos eles eram quadrinhos de banca e, hoje, o leitor de quadrinho nacional não está nas bancas. A evolução modificou essa dinâmica. Nos anos 2000, com o barateamento das gráficas, agora no formato digital, houve um boom de obras independentes. E a internet ajudou muito na divulgação. Isso deu início a uma estruturação na qual o mercado editorial foi atrás de talentos, teve a abertura de projetos do governo para a linguagem e o apoio a contos literários. Depois vieram os eventos temáticos, como a Comic Con Experience e o FIQ (Festival Internacional de Quadrinhos). Existe hoje um cenário melhor do que no passado, mas ainda não como poderia ser de forma potente, como em países como Estados Unidos, França, Bélgica, Japão e até Argentina. São mudanças que, daqui a 20 ou 30 anos, teremos frutos. Não acho que voltaremos mais para o que existia antes.
Quando você era criança e adolescente, imaginava que o País teria uma estrutura como a atual?
Nunca, jamais. Tanto que quando aparecia um quadrinho brasileiro nas bancas eu ficava louco, feliz mesmo. Um dos meus primeiros contatos nos quadrinhos foi o Arthur Garcia, que desenhou a revista Street Fighter na década de 1990, que eu colecionava. Mesmo sendo um produto norte-americano, era escrito e desenhado por brasileiros. O sonho de quem acompanhava o cenário era ver mais coisas nacionais e entender o que os brasileiros poderiam fazer.
De que forma percebeu que seria possível conciliar o trabalho como roteirista de histórias em quadrinhos com a vida profissional ligada aos Correios e a seu cotidiano pessoal?
Tento conciliar de forma que uma atividade não atrapalhe a outra. Até hoje acho que tenho conseguido, mas é complicado. Tiro meu tempo, cerca de uma hora, uma hora e 30 minutos, todos os dias para mexer com quadrinhos, seja lendo ou escrevendo. Também sou pai, marido e filho. Eu me forço a estar próximo aos quadrinhos. Se não me forçar a trabalhar sempre, não terei um roteiro que precisaria para, sei lá, 30 dias depois. As coisas não surgem no estalar dos dedos.
Como é seu processo criativo? Você anota ideias, retoma lembranças, pensa nos personagens, imagina começo, meio e fim....
Tem histórias que já vêm prontas, que aparecem na cabeça e começo a escrever para não perder. Há outras que tenho que montar uma base, preciso sentar e fazer meu próprio brainstorm, jogando tudo no papel e retomando o que realmente quero. Às vezes parto direto para o roteiro e, em outros momentos, desenvolvo contos. Não tenho um modelo fixo de trabalho. Tem coisas que já me apareceram, inclusive, pensando no quadro a quadro. Cada história tem uma história.
Você sendo pai, consegue passar essa cultura do consumo de quadrinhos para suas filhas? Elas se interessam pelo tema?
Sim, faço questão. Minha mulher e eu as incentivamos muito a ler, quadrinhos e livros em geral. Aprendi a ler com essa linguagem e devo tudo aos quadrinhos. O vocabulário que tinha quando era pequeno, aos 11, 12 anos, foi graças às HQs e era mais rico do que o apresentado por pessoas mais velhas que conhecia. É uma ótima ferramenta de aprendizagem. O formato tem potencial gigante, com o visual chamando muito mais a atenção de crianças e adolescentes do que publicações convencionais. Uma adaptação, como a que fiz de A Mão e A Luva, parece ser mais interessante do que o livro original de Machado de Assis, que é muito bom, mas pode ser pesado para jovens leitores.
Qual é a força dos quadrinhos neste contato dos jovens com clássicas obras literárias nacionais? O formato tem esse poder de quebrar barreiras entre gerações?
Com certeza! O quadrinho leva ao jovem nossa leitura com linguagem moderna com a qual ele está muito mais familiarizado. Os mais novos são muito visuais e transformar as descrições em cenários, roupas, momentos e cenas com os personagens faz você pescar o leitor. Isso é o mais gostoso desse tipo de projeto: ver as pessoas lendo e causando repercussão. Pegar estilos arcaicos, como o de Luís de Camões, é complicado. Traduzir certas coisas dele em quadrinhos dilui muito do que é contado e abre as ideias do autor para o público.
Um de seus destaques recentes é o conto Orixás. Como surgiu esse projeto no seu caminho?
Minha primeira publicação independente foi Defensores da Pátria (2007), grupo de heróis ligados aos Estados e com características de suas regiões. Para a Bahia, resolvi desenvolver a questão dos orixás e trabalhar os costumes ligados ao candomblé e à umbanda, muito fortes na história baiana. Nasceu Ogum e seu universo junto com os outros heróis brasileiros. A vendagem foi ótima e me cobrava muito de fazer a continuação, mas segui pela linha do Ogum, com trama que explorasse mais os orixás. Do grupo, Ogum era o personagem mais forte. Em 2007 e 2008, procurei informações e encontrei a revista Orixás, que tinha uma lenda que já imaginei em quadrinhos, Chamei o Caio (Majado, desenhos) e o Omar (Viñole, arte-finalista) e eles toparam o projeto. Fizemos A Separação do Céu e da Terra, presente no volume Orixás – O Dia do Silêncio (2015). Mandei para a revista e o editor logo respondeu querendo o material. As histórias saiam por lá e foram reunidas em O Dia do Silêncio. Foi ali que nasceu em mim verdadeira paixão pela mitologia africana. Depois abriu o ProAC (programa de incentivo cultural do governo do Estado) e inscrevemos as histórias do Orixás, que foram contempladas; pensamos em um conto mais rebuscado e trabalhado. Vi que tinha lendas sobre a criação, mas de acordo com a mitologia iorubá.
Com o mais recente capítulo da saga Em Guerra, você ganhou o Troféu HQMix na categoria publicação independente de grupo. Como surgiu a história?
Já tínhamos o Orixás – Do Orum ao Ayê (2011) há cinco anos e O Dia do Silêncio saiu fazia tempo. Procurei mais lendas e histórias. Tinha quatro contos preparados em separado. Foram meses pensando o que fazer e peguei duas dessas que tinham laço com batalhas para formar o Orixás – Em Guerra (2017). As outras falam de renascimento e reinvenção, aparecendo em Orixás – Renascimento, que busca apoio no Catarse (plataforma de crowdfunding, uma vaquinha virtual) para ser lançado neste ano.
O tema dos orixás pode parecer meio inusitado para quem não gosta desta cultura. Houve algum tipo de polêmica e problemas em relação às crenças que servem de base para a série?
Não tive essa resistência. Não sou da umbanda nem do candomblé. Sou um estudioso e busco informações sobre esse universo. Meu trabalho é focado na cultura africana. Em nenhum momento coloco no centro das atenções a questão religiosa. Não é feito somente para o público da umbanda e do candomblé. Claro que não dá para desvincular uma coisa da outra, mas tirar o foco disso quebrou muitas barreiras. O tema parece espinhoso e nunca deve ser. É para divulgar uma cultura que não é diferente da mitologia nórdica, grega ou japonesa.
O Em Guerra lhe rendeu seu segundo Troféu HQMix. Como é ter esse tipo de reconhecimento?
Ser indicado é bom, mas ganhar é melhor ainda. Ele te dá um reconhecimento e o HQMix é o mais difícil de vencer. A importância é enorme. Sempre coloquei na cabeça que ele não enche barriga, somente o ego, e isso não traz trabalhos se você ficar parado no sofá. Abre portas e engrossa o currículo. Estou feliz de verdade, principalmente por ser lembrado por quem trabalha na área e te reconhece de maneira crítica.
O contato com os fãs em diversos eventos temáticos é instigante ou estressante?
Adoro essa aproximação causada pelos eventos. É ali que você realmente sabe se seu trabalho está bom ou não. O leitor aponta acertos e erros. É uma conversa muito franca e falam na cara mesmo. É um dos momentos que fazem a gente continuar e ver significado do que estamos realizando.
É possível perceber se o Grande ABC é um público que consome HQs nacionais ou que se envolve com a área de alguma forma?
Acho que há muitas pessoas da região que gostam de quadrinhos, só que ainda não temos algo que faça essa galera se juntar por aqui mesmo. É um público que procura mais fora do que perto de casa. Faltam eventos temáticos fortes que atraiam os dois lados da moeda, fãs e profissionais, locais de ponto de encontro para quadrinistas e que tenham lançamentos. Infelizmente existe essa lacuna. Sempre encontro pessoal daqui em eventos em São Paulo. Fora que temos muita gente de talento que representa o Grande ABC, como o Ivan Reis, Marcelo e Magno Costa, Fernandes, Gilmar, Luke Ross, Diogenes Neves. O público existe, mas ainda não se agrupou.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.
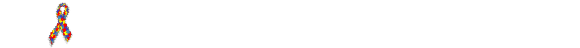


 Santo Andre 15° C
Santo Andre 15° C
 São Caetano 17° C
São Caetano 17° C








