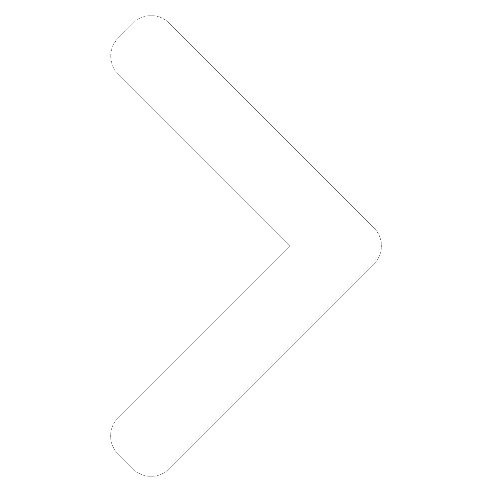
A crise política e econômica que se abateu sobre o País a partir de 2016 contaminou a política externa brasileira. Um novo presidente pode melhorar esse cenário? A próxima eleição será decisiva para os rumos do Brasil em vários aspectos, mas um dos menos observados é a política externa, historicamente relegada a segundo plano em eleições.
Em um limbo desde o segundo mandato de Dilma Rousseff, as relações exteriores brasileiras minguaram. O Brasil perdeu chances de conquistar espaço no cenário internacional. Agora, está em busca de uma agenda de política externa possível e viável - e o próximo presidente terá pouco tempo para colocar uma nova agenda em prática.
"O próximo governo vai esbarrar em um dos cenários externos mais desafiadores para o Brasil em décadas e, por isso, será necessário construir uma agenda propositiva e realista", afirmou o professor de Relações Internacionais Oliver Stuenkel, coordenador da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV).
A expectativa de elevação da taxa de juros nos Estados Unidos tornará mercados emergentes menos atraentes para investidores. A recuperação dos preços das commodities ocorreu, mas de forma tímida. O Brasil é altamente dependente de um conjunto funcional e previsível de regras e normas globais, que organizam a política internacional, que está erodindo no mundo todo. Por fim, a crise na Venezuela roubará espaço na agenda de discussões internacionais do Brasil. Quem quer que seja eleito terá de lidar com questões sobre o vizinho em encontros em Washington ou Bruxelas.
Uma agenda viável incluiria conversas bilaterais sobre acordos comerciais e negociações sobre redução de tarifas. Segundo analistas, a aproximação com Washington e o reforço dos laços com os Brics também são questões que não podem faltar numa agenda externa brasileira. Um projeto com foco na área econômica, com engajamentos prioritários para concluir o Acordo do Mercosul com a União Europeia e aproximar o Brasil e o Mercosul da Aliança do Pacífico, e a tentativa de expandir os acordos em foros multilaterais.
A dificuldade em se estabelecer uma agenda simples decorre dos altos e baixos que o Itamaraty enfrentou na última década. Quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu, a política externa brasileira estava traçada por Fernando Henrique Cardoso: o destino do Brasil seria se tornar uma potência regional. Esse sonho, acalentado com certo grau de megalomania por Lula, foi escanteado por Dilma Rousseff e definitivamente enterrado com a recessão econômica, a partir de 2015, o impeachment e as dificuldades enfrentadas, na sequência, pelo presidente Michel Temer. De pretensa potência global em 2009, o Brasil passou a mero líder regional e, agora, nem isso.
Do "imperialismo brasileiro", com negociações multilaterais, tentativa de influenciar as negociações nucleares com o Irã, participação de empresas brasileiras em megaprojetos de infraestrutura na América Latina e na África, sobrou pouca coisa. "É preciso entender que houve uma mudança de cenário. O Brasil no período Lula foi favorecido pela expansão dos mercados emergentes, principalmente a China, e pelo boom de commodities", disse Stuenkel.
Agenda
Mantidas as bases que guiaram o governo Fernando Henrique, Lula tentou ampliar a agenda externa para temas como armas nucleares e aumentar investimentos em países da América do Sul, África e Ásia. Com Dilma, a diplomacia adotou outra postura. Abandonou tentativas de influenciar grandes questões e manteve a agenda Sul-Sul. Mas a crise deixou o cenário obscuro.
"A predisposição de um presidente em relação à política externa é importante. A Dilma não se interessou pelo tema e não quis manter o ativismo. Mas depois (no governo Temer) foi afetada pela crise interna que demandou todas as energias", afirmou o professor Matias Spektor, coordenador do Centro de Relações Internacionais da FGV.
Depois do impeachment, o Brasil ficou com dificuldades em estabelecer uma agenda propositiva em política externa. Teve alguns momentos de atuação, principalmente, no caso da Venezuela, mas acordos bilaterais e negociações com outros governos emperraram. "Como alguns países consideraram que a mudança de governo no Brasil foi irregular - expressando isso em notas e chegando até mesmo a ordenar a volta de embaixadores -, é compreensível que a política externa tenha sido de reação. Mas, aos poucos, as coisas devem começar a entrar na normalidade neste campo", disse o embaixador Rubens Ricupero.
A dificuldade em manter uma agenda de política externa só deve diminuir após as eleições. "Hoje, tudo depende do resultado da eleição. O cenário internacional para toda a América Latina em 2019 será complexo e turbulento", afirmou Stuenkel. Enquanto isso, pautas comerciais e acordos multilaterais tendem a continuar no limbo. Em 2019, o Brasil vai sediar a cúpula dos Brics para decidir quem ocupará a próxima presidência do organismo. A negociação entre Mercosul e a União Europeia, em andamento desde 1999, também deve ser concluída em 2019. "Talvez as incertezas aumentem, se o eleito for uma pessoa radical que afaste o Brasil das negociações", disse Stuenkel.
Troca da África pelos morros do Rio
Em 10 de julho, as Forças Armadas do Brasil deveriam ter desembarcado em Bangui, na República Centro-Africana, sob mandato da Organização das Nações Unidas. Teria sido o primeiro movimento de uma nova missão de paz, apenas oito meses depois do encerramento do ciclo de 13 anos da experiência no Haiti, e o primeiro contato direto da tropa com um cenário abrasivo, marcado por combates entre os rebeldes da Coalizão Séleka e os apoiadores do governo regular. Há crescente influência de grupos radicais de outros países, como os fundamentalistas islâmicos do Boko Haram, da Nigéria. Serviços de inteligência dos Estados Unidos relatam desde 2016 "fortes indícios de células do Estado Islâmico na fronteira com o Sudão do Sul". Zona de guerra.
O Brasil chegaria levando muita bagagem. O efetivo, estimado pelo Comando do Exército entre 700 e 800 combatentes, o tamanho de um batalhão, seria suplementado por fuzileiros navais e teria o apoio de um grupo da Força Aérea, atuando, pela primeira vez em 74 anos, em uma situação de conflito real.
O plano previa o envio de um cargueiro C-105 Amazonas, dois helicópteros UH-60 Black Hawk e dois aviões A-29 Super Tucano. Segundo o analista técnico da ONU, o coronel do Paquistão Humayun Choan Zia, chefe do Sistema de Capacidades em Operações de Paz, a ala área daria apoio a mais de um grupo pacificador envolvido na missão, a Minusca, sob a qual estão trabalhando no país 9.639 militares, 1.883 agentes policiais e 760 funcionários civis. O projeto, pelo qual se empenhou diretamente o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, acabou cancelado.
Escolha
O presidente Michel Temer decidiu empregar as Forças na intervenção na segurança do Rio. O esforço vai custar R$ 1,2 bilhão ao longo de 10 meses. No Palácio do Planalto, assessores do presidente limitam-se a dizer que a missão na República Centro-Africana não fora ainda formalizada e, portanto, não foi cancelada - apenas saiu da agenda deste ano para voltar em 2019. O problema, entretanto, é maior. A participação do Brasil nas missões dá relevância e tem efeito multiplicador que a diplomacia tradicional nem sempre pode suprir. Em Nova York, a sinalização do interesse pela participação brasileira é intensa.
O próximo presidente terá de atender à demanda da ONU e também dos comandos militares, que consideram inadiável a experiência em ambiente com a presença de movimentos extremistas. Segundo um general do Exército ouvido pelo Estado, "o contato com esse teatro de operações como da África central já não é mais uma condição de "se" houver necessidade de agir diante de uma ameaça, mas de "quando" isso vai acontecer em uma região de interesse (do País)".
O movimento mais recente foi a indicação do general Elias Rodrigues Martins Filho para assumir no República Democrática do Congo o comando da Monusco, a maior missão internacional da ONU, com 17 mil homens e mulheres.
48 mil venezuelanos
O funcionário público venezuelano Carlos Escalona, de 34 anos, tinha acabado de sofrer um sequestro relâmpago, no qual foi ameaçado e golpeado na cabeça por homens mascarados, quando recebeu um recado de seus superiores. "Talvez você tenha falado demais", afirmou-lhe o chefe. O "aviso" era o começo de um processo que o levaria a deixar a Venezuela e se refugiar no Brasil.
A história de Escalona é uma entre as 48 mil que cruzaram a fronteira em Roraima. Ali, o próximo presidente do Brasil terá de desarmar uma bomba-relógio, cujo segundo final ainda não está definido. Com Nicolás Maduro reeleito para um novo mandato no país vizinho, não há sinais de que a crise econômica e política venezuelana vá amenizar nos próximos anos e o colapso do país pode aumentar o fluxo de refugiados na fronteira norte do Brasil.
Foi por ali que Escalona entrou no País. Ele trabalhava numa TV do Estado de Arágua, durante a gestão de Tareck EL Aissami, hoje vice-presidente e acusado de narcotráfico pelo governo americano. O irmão de Escalona é jornalista e trabalhava na sucursal venezuelana da CNN em espanhol. O governo suspeitava que ele passara informações para o irmão.
Hoje refugiado, morando em São Paulo em um pequeno apartamento na zona leste da cidade com a mulher, Marifer, Escalona contou que depois do episódio do sequestro relâmpago passou a sofrer cada vez mais ameaças veladas. Telefonemas, campanas e retaliações no trabalho faziam parte do cotidiano. Ele então passou a planejar a fuga.
O primeiro passo foi enviar os pais, já idosos, ao Equador. Era 2016 e a crise econômica venezuelana não tinha atingido os patamares de escassez e hiperinflação de hoje, mas a situação já era preocupante. Uma vez resolvida a questão, reuniu economias para comprar duas passagens de ônibus de Caracas para Manaus.
De lá, o casal decidiu ir para Fortaleza, cidade que conheceu quando viajou de férias ao Brasil na década passada. A vida no Ceará, no entanto, não deu certo. Jornalista de formação, Escalona tinha dificuldades em conseguir emprego.
Após meses no Nordeste, escolheram um novo destino: São Paulo. Na capital paulista, as dificuldades continuaram. "É nesse momento que você percebe que não é nada. Tive muita sorte de me ajudarem", afirmou.
Com o auxílio da Missão Paz - grupo ligado à Igreja Católica que acolhe imigrantes em São Paulo - conseguiu emprego na cozinha de um hotel. Em paralelo, montou com a mulher um negócio de venda a domicílio de comida venezuelana orgânica. As arepas, disse Marifer, são o carro-chefe. "Os brasileiros nos receberam muito bem, temos muito que agradecer." Enquanto se estabelecia no País, o casal assistia ao aprofundamento da crise venezuelana.
Crise
Mesmo com a alta do petróleo no mercado internacional, a estatal de petróleo PDVSA tem tido cada vez mais dificuldades para escoar sua produção, em virtude de dívidas adquiridas com fornecedores, agravadas pelas sanções impostas pelos Estados Unidos e o sucateamento de suas refinarias. Com isso, o governo tem cada vez menos recursos para tentar mitigar a crise e a escassez generalizada de alimentos e remédios tende a agravar-se cada vez mais, o que, por sua vez, deve aumentar o êxodo de venezuelanos nas fronteiras.
Só no Brasil, segundo o Ministério da Casa Civil, 48 mil venezuelanos tramitaram pedidos de refúgio até maio. "Até agora as medidas regionais de pressão na OEA (Organização dos Estados Americanos) e no Grupo de Lima não surtiram nenhum efeito prático e dificilmente surtirão", disse o sociólogo Carlos Raúl Hernández. "Uma saída consensual e negociada é necessária na Venezuela e nisso o papel do Brasil como grande potência regional é essencial."
O papel brasileiro como mediador, no entanto, depende em grande medida de quem será eleito em outubro, na avaliação do professor Guilherme Casarões, da FGV. "(Jair) Bolsonaro vem antagonizando o regime de Maduro a partir de uma dimensão ideológica, anticomunista, e deve posicionar o Brasil fortemente contra a Venezuela."
Um candidato centrista, como Geraldo Alckmin ou Marina Silva, deve manter a posição de crítica a Maduro a partir de plataformas regionais, como o Grupo de Lima, mas mantendo o entendimento de que o Brasil deve fazer parte de uma solução construtiva para a crise venezuelana, segundo o professor. "À esquerda, Ciro Gomes já declarou que o Brasil deve adotar papel conciliador, enquanto setores do PT e do PSOL seguem realizando uma defesa de Maduro, o que sugere que poderia haver uma aproximação caso esses partidos cheguem à Presidência."
Assim como Hernández, Oliver Stuenkel, também da FGV, relativizou a eficácia da pressão imposta politicamente até agora. "As sanções políticas e individuais têm pouco impacto, e o Brasil só as imporia se tivesse uma decisão da ONU", afirmou. "Os Estados Unidos também não imporão sanções econômicas ao petróleo às vésperas das eleições (americanas) de meio de mandato (do presidente Donald Trump). Basicamente, não há uma boa solução e não há o que fazer de fora para melhorar a situação."
BNDES não é mais consenso
Braço financeiro da política direcionada a buscar aliados em países em desenvolvimento, o BNDES multiplicou a atuação em regiões consideradas estratégicas para os objetivos de governos brasileiros. Hoje, o uso do banco é alvo de questionamentos e uma revisão, diante de custos, riscos de calote e suspeitas de irregularidades.
A partir de 2003, o BNDES foi instrumento fundamental da política externa brasileira. Os números mostram um cruzamento entre as prioridades políticas e as linhas de crédito do banco. Foram R$ 14 bilhões para Angola, R$ 11 bilhões para Venezuela e US$ 7,7 bilhões para Argentina. O professor do Insper Sergio Lazzarini divide a atuação do BNDES no exterior em duas etapas. A primeira se refere ao desenvolvimento de linhas de exportação e que beneficiaram as vendas da Embraer.
Depois, segundo ele, a estratégia foi ampliada e passou a promover empresas que poderiam ser alvo de uma expansão internacional. Esse seria o caso das construtoras. A maior beneficiada foi a Odebrecht, com US$ 8,2 bilhões em créditos no exterior, ante US$ 2,6 bilhões na Andrade Gutierrez. Para Lazzarini, deve haver uma real avaliação se, de fato, esses empréstimos valeram à pena.
"Sob o ponto de vista do Tesouro e da sociedade brasileira, há um custo relevante dessas operações. Ele é o custo para o Tesouro correspondente às taxas de juros pagas pelo governo no financiamento da sua dívida pública", disse. "Utilizando a metodologia que compara as taxas dos empréstimos internacionais com o custo de captação internacional do Tesouro, as estimativas indicam que, no total, há um custo de US$ 351,7 milhões por ano com esses contratos de financiamento."
A pesquisa não nega que esses custos sejam "compensados com ganhos na economia local - por exemplo, em renda e emprego com as atividades de exportação". Mas esses ganhos precisam ser demonstrados. "É preciso avaliar se os mesmos benefícios não poderiam ser obtidos com outras atividades de maior impacto social que exijam menor custo financeiro."
Hoje, o uso do BNDES para esses fins não é mais consenso. "A recessão e os escândalos de corrupção racharam o consenso do uso do BNDES como alavanca da política externa brasileira nos governos do PT e do PSDB", disse o pesquisador da FGV Matias Spektor. "Um dia será preciso restaurar a imagem do Brasil no mundo e, para isso, o banco poderá ser um ativo formidável, se souber aprender as lições dos muitos erros cometidos." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.
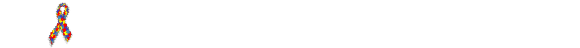


 Santo Andre 16° C
Santo Andre 16° C
 Mauá 26° C
Mauá 26° C
 Rio Grande da Serra 21° C
Rio Grande da Serra 21° C








