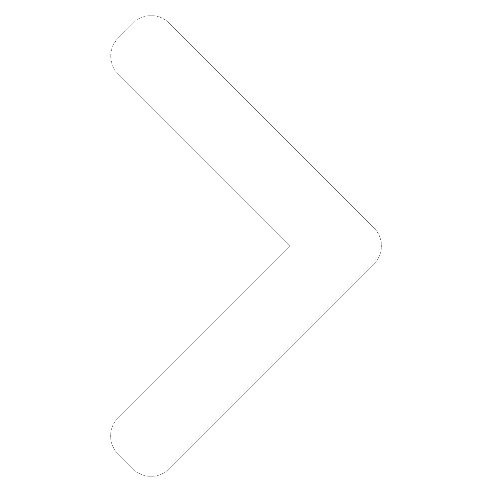
Do Diário do Grande ABC

“Não foi nada fácil deixar o Brasil para viajar 16 dias em um navio, com outros 5 mil soldados. Dormimos em prateleiras nos porões, comemos a cada 12 horas e tivemos o medo constante de sermos torpedeados”, afirma o presidente da Associação, lembrando que o pânico só não tomava conta por completo do grupo porque os soldados já haviam sido previamente ‘preparados’.”
“Dias antes de embarcar, no quartel do Rio, recebemos uma série de injeções, algumas com até uma polegada de líquido. Em seguida, fomos expostos ao sol forte para ver se não teríamos reação. Depois, já na Itália também tínhamos uma tabelinha de outras injeções que eram ministradas diariamente. Tudo estava escrito em inglês e não conseguíamos decifrar. Também não nos falavam o porquê de tantas picadas. O fato é que depois dessas picadas todos ficavam destemidos. Era como se nossos sentimentos mais profundos fossem adormecidos”, conta o ex-combatente.
A pedido do Diário, Cruchaki reuniu outros quatro ex-combatentes na sede da Associação. Um sexto soldado recebeu a reportagem em sua casa para narrar um pouco de suas lembranças. Todos serviram na Itália. Como contraponto, foi entrevistado também um italiano que serviu aos interesses militares do Eixo (Alemanha, Itália e Japão) e que atualmente mora em Santo André. A seguir, trechos dos depoimentos:
Esperança de voltar
”Minha missão era recolher os feridos, onde quer que eles estivessem. Dá para imaginar o que eu presenciei. Eu também ficava com as fichas dos 200 soldados do batalhão. Cabia a mim reconhecer aqueles que tombavam em combate para encaminhar o aviso às famílias. Fazer isso não era nada fácil. Apesar da dureza dos dias, muitos de nós compraram máquinas fotográficas na Itália, com o saldo que recebíamos, para retratar os momentos de descontração. Isso demonstrava nossa esperança de voltar.”
“Todo dia recebíamos dos norte-americanos cigarros, chicletes e barras de chocolate. Preservativos era só pedir. Ficamos na Itália cerca de um ano e havia a necessidade de termos relações sexuais. Na Itália, a miséria era demais e, por isso, as italianas transavam com a gente em troca de cigarros, chocolates... Houve até quem se apaixonasse. Eu mesmo quase me casei por lá. Às vezes, quando passávamos pelas ruas, garotos perguntavam se não queríamos uma mulher. Então eles nos levavam até suas casas. Lá nos esperavam suas irmãs e, às vezes, até suas mães. A guerra dita novas regras”.
Nelson Guedes, 83 anos. Soldado do Batalhão de Saúde. Função: recolher combatentes feridos e registrar as baixas de seu grupamento. Mora em Santo André.
Tinha de ser certeiro
Essa história que o Nelson conta retrata bem a que se sujeita quem vai para a guerra. Havia um soldado chamado Mário que, numa determinada noite, estava de sentinela, estático, na escuridão. De repente, surgiu em sua direção um soldado alemão solitário. Como estava escuro, Mário viu o alemão se aproximando, mas o alemão não viu o Mário. Sem saber o que fazer, quando o inimigo chegou bem pertinho ele o matou à queima-roupa. Ainda afoito, foi revirar seus bolsos e encontrou a foto da família do sujeito. Ficou tão chocado que nunca mais se recuperou.”
“Quando você ia dar um tiro, tinha de ser certeiro. Se deixasse o inimigo ferido, ele poderia gritar para os outros que abririam fogo contra o grupamento. Às vezes era melhor nem começar. Em outra noite, havia um batalhão de aliados que passou a uns 20 metros de um grupamento alemão. Uma tropa percebeu a presença da outra, mas ambas preferiram se respeitar. Cada uma continuou seu caminho, em silêncio. A guerra também tem momentos de consideração.”
Julio do Valle, 84 anos. Soldado do Batalhão de Saúde. Função: combater e prestar suporte de saúde. Mora em São Paulo.
Recusei-me a ficar “Quando fui convocado para a guerra, meu comandante pediu que eu ficasse, pois eu era um dos poucos que ensinava os recrutas a andar a cavalo. Recusei-me a ficar porque não me perdoaria se outro morresse em meu lugar.”
“Ainda bem que os americanos nos deram fardas de lã, porque saímos do Brasil com roupas de brim. É quase nada para quem chegou a pegar neve e temperatura de menos 24 graus. Na tomada de Monte Castelo meu canhão deu 500 tiros.”
“Não consegui avisar que estava de volta ao Brasil. Quando cheguei em Diadema minha mãe vinha com um feixe de lenha, depois de ter levado almoço para meu pai que cuidava de uma plantação de eucaliptos. Ela largou o feixe ali no chão, nos abraçamos e choramos muito. O encontro com Helena, minha namorada na época, hoje esposa, também foi cheio de lágrimas. É com ela que estou casado há 58 anos, com quem tenho dois filhos, sete netos e um bisneto. Sempre conto para eles, com orgulho, as minhas histórias. Gosto de ver filmes de guerra com eles.
Luiz Pedrozzelli, 83 anos. Terceiro sargento do I Grupo do 2º Regimento de Obuses Auto-rebocados. Função: operador de obuses. Mora em Diadema.
Ainda me assusto
”Os alemães eram muito espertos. Colocavam bombas chamadas pega-bobo em casas abandonadas. O soldado aliado entrava, via um relógio, ia pegar para ver e, pronto, já estava fora de combate. Eles também colocavam explosivos em quadros nas paredes. Sabe quando o quadro fica fora do lugar e, instintivamente, você vai lá arrumar, era nessa hora que o quadro explodia. Essas bombas eram colocadas também sob cadáveres e estouravam no momento em que o soldado ia revirar o morto em busca de cigarros, isqueiro, armas etc.”
“Tenho 84 anos e ainda me assusto com uma porta de armário que se fecha com força, com bombinhas de São João. Por trás de cada estouro me lembro dos ataques. Também vejo os rostos dos companheiros feridos.”
“Nós só tivemos um pouco mais de respeito do governo brasileiro com a Constituição de 1988. O engraçado é que quando íamos ao posto médico em busca da aposentadoria, tendo em vista as nossas seqüelas, diziam apenas que éramos incapazes para o Exército, mas que poderíamos trabalhar. Depois da guerra, tive problemas sérios no coração e só assim consegui minha reforma.”
Joaquim Fernandes Amaro, 84 anos. Cabo do Batalhão de Saúde. Função: recolher os feridos no front. Mora em São Bernardo.
Orgulho e frustração
”Chegamos na Itália um mês e dez dias depois do Dia D. Nosso grande orgulho foi termos conseguido a rendição da Divisão 148 dos alemães que contava com cerca de 14 mil soldados. Nós éramos 6 mil. Nossa grande frustração foi Getúlio Vargas ter nos dispensado do exército ainda em terras italianas. A partir do segundo grupamento da FEB que subiu no navio de volta para o Brasil, o alto comando do Exército tomou até os canivetes. Vargas pensava: são quase 25 mil homens de nossas Forças Armadas, agora bem preparados pela própria guerra. Eles vêm de derrubar dois ditadores. Talvez queiram derrubar um terceiro. Vamos fazê-los chegar aqui, desarmados e já como civis.”
“Chegamos aqui e não éramos mais militares. Não nos davam empregos porque achavam que os pracinhas teriam regalias do governo. Além do mais, as empresas temiam contratar um sujeito com seqüelas. Fiquei seis meses desempregado, vagando, depois de ter arriscado a minha vida e de ter visto tantas mortes de companheiros. Tenho dez filhos, 22 netos e 4 bisnetos, e sempre digo a eles: nunca sigam a carreira militar”.
Eurídes Gomes Fernandes, 85 anos. Motorista. Função: transporte de soldados e suprimentos. Mora em São Caetano.
Ninguém volta inteiro
”Às vezes, quando alguma bomba explodia perto, escorria sangue do meu ouvido. Ninguém volta inteiro de uma guerra. Não gosto de filmes de guerra e, caso soldados brasileiros sejam convocados para missões de combate, que não sejam missões de paz, nós seremos os primeiros a manifestar repúdio.”
“Eu tinha de desarmar minas, que eram detectadas, antes do batalhão passar. O estresse era muito grande, porque o mineiro só erra uma vez na vida. Até hoje eu trago comigo a tensão daqueles dias.”
“O que achamos estranho é a postura de alguns praianos. Os praianos foram aqueles 200 mil soldados que ficaram aqui no litoral brasileiro enquanto lutávamos lá na neve. Muitos deles contam histórias que não viveram.”
“Observando os abusos no Iraque, lembro-me da ética que prevalecia quando nós da FEB fazíamos prisioneiros. Tínhamos bem claro que precisávamos tratá-los com respeito porque, a qualquer momento, poderíamos estar na mesma condição.”
Antonio Cruchaki, 83 anos. Soldado do Batalhão de Engenharia. Função: construir pontes e também desarmar e armar minas terrestres. Mora em Santo André.
Sofrimento também do outro lado
”Quando houve o Dia D eu já era prisioneiro de guerra. Meu grupamento caiu em uma emboscada dos ingleses e, apesar de não ter sido ridicularizado como são os soldados iraquianos hoje, passei muita fome. Fui levado primeiramente ao Egito onde permaneci por oito meses. Lá só comia sopa de lentilhas, prato que não posso mais ver na minha frente. Depois fui levado à África do Sul e a única refeição disponível era um mingau de milho. Cheguei a comer cascas de mamão, laranja, banana... A guerra se resume a duas palavras: fome e miséria. Depois da África do Sul fui ser prisioneiro nos Estados Unidos.”
“Certa vez, ainda antes da prisão, um avião inglês caiu perto de onde estávamos. O piloto havia ferido seu braço. Eu e outros dois companheiros o trouxemos para o acampamento para cuidar dele. Ele não compreendia o nosso italiano e, na época, nós também não falávamos inglês. Apesar disso, conseguimos entender que ele tinha mulher e dois filhos. Assim que terminei os curativos, ele me beijou as mãos. Isso mexeu muito comigo. A guerra tem essa péssima propriedade de fazer você não se ver em seu semelhante. Apesar de prisioneiro, o tratamos com todo o respeito.”
“Vim parar no Brasil porque meu avô havia participado de uma guerra em meados do século XIX. Meu pai combateu na Primeira Guerra e eu na Segunda. Casado, com três filhos – dois meninos – resolvi deixar a Itália rumo ao Brasil. Não queria o mesmo sofrimento para eles.”
Vincenzo Sappracone, 84 anos. Italiano. Infantaria italiana do exército do rei Vitório Emmanuel III, que dava suporte às tropas de Mussolini. Função: atacar as forças aliadas. Mora em Santo André.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.
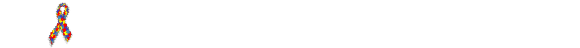


 Santo Andre 16° C
Santo Andre 16° C
 São Caetano 20° C
São Caetano 20° C
 Mauá 20° C
Mauá 20° C







